‘Oriente Médio é um laboratório das políticas dos EUA’, diz Reginaldo Nasser ao OPEU Entrevista

Por Haylana Burite*

Prof. Reginaldo Nasser (Arquivo pessoal)
O professor Reginaldo Nasser é livre-docente na área de Relações Internacionais da PUC-SP, docente do Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais (GECI) e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU). Nesta conversa com o OPEU Entrevista, o professor Nasser fala de dois capítulos de sua autoria no livro Revoltas, conflitos e novos caminhos da geopolítica: as interconexões entre o Oriente Médio e a América Latina, lançado no ano passado pela Editora EDUC.
No penúltimo capítulo, intitulado “O governo Trump e a Rússia no Oriente Médio”, ele aborda os pontos de convergência e distanciamento do governo Trump com a Rússia nos assuntos estratégicos do Oriente Médio, em especial, na guerra da Síria e nas tensões do Golfo Pérsico. No último, “A presença dos EUA no Iraque durante o governo Trump. Uma diplomacia de negócios?”, Nasser continua a discussão sobre a ruptura da administração Trump com o papel de liderança global para a promoção da democracia e dos direitos humanos, defendido pelo ex-presidente Barack Obama, e destaca como o Iraque se tornou central para a política externa estadunidense.
OPEU: Gostaria de começar por sua trajetória acadêmica, que passa pela Ciência Política (Unicamp) e pelas Ciências Sociais (PUC-SP), com sólida pesquisa dedicada aos estudos sobre política internacional, sobretudo, do Oriente Médio. De que maneira e por qual razão os Estados Unidos se tornaram uma parte importante de sua pesquisa?
Obrigado. É um prazer estar aqui e falar com você. É muito bom ter um espaço de pesquisa, envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação no projeto do OPEU e do INCT-INEU, um espaço de reflexão único no Brasil.
Eu me lembro de ouvir uma frase de um professor meu, um verdadeiro mestre, professor Oliveiros Ferreira, que foi meu orientador de doutorado e me influenciou muito. Era muito culto e conhecia muito de política internacional, A frase em latim soou grave e pomposa, etiam diabolus ius est audiendi [“Até o diabo tem o direito de ser ouvido”, em tradução livre]. Aí eu fui ouvir o diabo, os Estados Unidos. Na verdade, para quem acompanha a política internacional, é inevitável ver os Estados Unidos em toda a parte. Depois, me despertou o interesse de conhecer melhor as doutrinas políticas dos Estados Unidos. Historicamente, o momento pós-Primeira Guerra, que tenho em uma parte da minha tese de doutorado, com Woodrow Wilson (1913-1921), depois abordo [Franklin Delano] Roosevelt (1933-1945). Depois da minha tese de doutorado foi, inclusive, publicado um livrinho, mais para divulgação, que se chama Os arquitetos da política externa norte-americana (EDUC, 2010). Adotei a concepção do arquiteto, que vai planejando, moldando e construindo algo.
 Outro tema, ao qual sempre dediquei atenção, mesmo antes de entrar na Universidade, é o Oriente Médio, que sempre foi um lugar de disputa entre grandes potências e de muita tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria e mesmo após seu término. Veja bem: de dez conflitos, em que os Estados Unidos se envolveram nos últimos anos, oito foram no Oriente Médio. Então, procurei articular essas duas coisas na minha trajetória: Estados Unidos e Oriente Médio, o envolvimento dos Estados Unidos, as guerras e todo o tipo de intervenção que os Estados Unidos faziam e fazem na região no Oriente Médio.
Outro tema, ao qual sempre dediquei atenção, mesmo antes de entrar na Universidade, é o Oriente Médio, que sempre foi um lugar de disputa entre grandes potências e de muita tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria e mesmo após seu término. Veja bem: de dez conflitos, em que os Estados Unidos se envolveram nos últimos anos, oito foram no Oriente Médio. Então, procurei articular essas duas coisas na minha trajetória: Estados Unidos e Oriente Médio, o envolvimento dos Estados Unidos, as guerras e todo o tipo de intervenção que os Estados Unidos faziam e fazem na região no Oriente Médio.
OPEU: Traçando um panorama histórico dos últimos mandatos norte-americanos, [Barack] Obama (2009-2017) e [Donald] Trump (2017-2021), o que pode ser percebido como convergência e oposição dos Estados Unidos em relação à Rússia nos tópicos relacionados ao Oriente Médio?
Tem uma frase do Fred Halliday, pensador em que eu me baseio bastante, que dizia o seguinte: “quando há um evento que chama a atenção, aparecem sempre duas interpretações opostas, e ambas são equivocadas, aquela que diz que tudo mudou, e a outra que diz que nada mudou”. Eu levo essa afirmação dele também para a política externa dos Estados Unidos. Quando há mudança de governos, a mídia naturalmente quer chamar a atenção para algo que não se verifica, quer dizer, que parece que mudou o presidente e muda tudo de um dia para o outro e, por vezes, os analistas internacionais, mesmo acadêmicos, acabam entrando nessa onda. A outra também é uma posição meio fatalista e acaba também não olhando para os fatos. Para ela, é tudo a mesma coisa. Não importa o que aconteça, já se tem uma explicação pronta, nem precisa pesquisar. Então, acho que, levando isso em conta, é preciso olhar com atenção onde muda, o que permanece e de que forma.
Em relação ao Oriente Médio, eu diria que, mais do que qualquer outro lugar, há muito mais continuidade do que mudança na política externa dos Estados Unidos. Se a gente olhar com atenção, o Oriente Médio aparece nas preocupações dos EUA desde o início da Guerra Fria. Aliás, no discurso de [Harry] Truman (1945-1953), considerado o discurso que delineia o início da Guerra Fria, no fundo, o que ele está abordando é a possibilidade de o conflito entre Estados Unidos e URSS, que estava começando, ir para o Oriente Médio. Ele faz o discurso justificando por que os Estados Unidos devem ajudar Grécia e Turquia, que estavam em um processo de turbulência, com vários movimentos de esquerda nos dois países. E ele justifica dizendo: nós não estamos vendo os russos lá, mas tem a ideologia comunista, que prolifera em terreno favorável, essa é a nova ameaça. E o que é o terreno favorável? É ter desigualdade, pobreza, não ter estabilidade política. E esse conflito não pode se difundir para todo Oriente Médio a partir da Grécia e da Turquia.
Então, ali é uma marca e, na década de 1950, uma parte que eu estudei na minha livre-docência, o Oriente Médio é tomado por uma série de movimentos nacionalistas, movimentos de esquerda… O Irã é o primeiro lugar onde há nacionalização das empresas do petróleo e também o primeiro lugar que tem um modelo de golpe financiado pelos Estados Unidos. Houve financiamento, apoio logístico e de Inteligência dos norte-americanos e dos britânicos aos militares e políticos iranianos para um golpe. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque tem uma longa história de que o Oriente Médio é um laboratório para políticas dos Estados Unidos.
A grande doutrina que depois vai ter uma inflexão na política norte-americana para o Oriente Médio é com Jimmy Carter (1977-1981), que era do Partido Democrata. Os cursos de Relações Internacionais não abordam adequadamente o papel dos chamados “idealistas” que, na verdade, pensam muito bem as estratégias norte-americanas e são, por vezes, até mais precisos do que os republicanos. Jimmy Carter considerou a área do Oriente Médio, principalmente em torno do Golfo Pérsico, como de segurança nacional, e não apenas segurança internacional. E a justificativa era que uma eventual crise do petróleo colocava em risco a sobrevivência econômica do país. É interessante observar que, mesmo diminuindo a dependência dos Estados Unidos em relação ao petróleo, essa sensibilidade para a questão energética continuou.
É preciso notar, entretanto, que há uma peculiaridade do governo Trump, que trouxe como ninguém o carimbo do business, dos negócios. Não que os outros não o tivessem, mas Trump, um dono de cassino, um dono de rede de hotéis, levou isso para a política externa. Acredito que boa parte dos analistas se equivocou, inclusive, ao dizer que Trump não entende de Oriente Médio. O genro dele [Jared] Kushner teve uma ascendência muito forte nas questões do Oriente Médio, se reuniu com vários xeques do Golfo Pérsico e com Israel. Inclusive, o primeiro secretário de Estado do Trump [Rex Tillerson] teve problema com o Kushner e foi demitido. Então, Trump trouxe esse perfil que alguns diziam: “ah, não tem estratégia”, etc.
 O então premiê israelense, Benjamin Netanyahu, com Jared Kushner e o então presidente americano, Donald Trump, reunidos no Hotel King David, em Jerusalém, em 22 de maio de 2017 (Crédito: Kobi Gideon/Government Press Office/Flickr)
O então premiê israelense, Benjamin Netanyahu, com Jared Kushner e o então presidente americano, Donald Trump, reunidos no Hotel King David, em Jerusalém, em 22 de maio de 2017 (Crédito: Kobi Gideon/Government Press Office/Flickr)
E aí entra tanto, de certa forma, o capítulo do Iraque, que eu escrevi com o Rodrigo Amaral (o Rodrigo, à época, era meu orientando, e já defendeu a tese dele, que é sobre o Iraque), e o outro, que discute a Rússia, que eu escrevi com o Gustavo [Oliveira], orientando de doutorado, ambos pesquisadores do INEU. Gustavo está no doutorado e estuda a Rússia no Oriente Médio. Então, nós abordamos essas peculiaridades do Trump, a marca dos negócios que permitiu solidificar a relação dos Estados Unidos com a elite árabe. Que elite árabe? Principalmente a elite das monarquias do Golfo Pérsico: Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Catar e assim por diante. É o lugar onde eles são muito poderosos não só na área de petróleo, mas, sobretudo, nas finanças.
Em relação à Rússia, qual é a questão? A gente aborda a disputa na Síria, que acabou se transformando em um tipo de Guerra Fria. Então, diferentemente de outros lugares, como a Líbia, quando houve a intervenção da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte], a Rússia não vetou, mas se absteve, assim como a China. A Rússia teve um envolvimento militar na Síria como em nenhum outro lugar, com exceção de seu entorno, Geórgia, Ucrânia… [Vladimir] Putin e Trump se davam bem em várias questões, mas ali, no Oriente Médio, a coisa ficou tensa.
Agora, estou escrevendo outros artigos, tanto com Rodrigo quanto com o Gustavo, atualizando um pouco isso. A guerra da Ucrânia não alterou, pelo contrário, ela exacerbou essas questões que a gente já estava pesquisando. A Rússia já tinha uma proximidade com países árabes, para além da Síria, que pouca gente notava. Tanto é que, agora, quando teve a guerra da Ucrânia, os Emirados Árabes, por exemplo, apesar de terem votado contra, depois, na Assembleia Geral [da ONU], votaram a favor da resolução, condenando a Rússia, mas se abstiveram no Conselho de Segurança.
Por fim, um outro tema que não está aí, mas que a gente pretende abordar em certo momento, é a proximidade que a Rússia tem, inclusive com Israel…. É algo que a gente não pode deduzir: que as relações dos Estados Unidos com a Rússia em outros lugares sejam as mesmas no Oriente Médio, onde há certas especificidades. Concluindo, não é que houve o rompimento da política externa de Obama a partir de Trump, mas também não ocorreu uma simples continuidade. Vamos dizer que Trump colocou mais tempero na comida e é um tempero que liga a diplomacia, mais especificamente, a diplomacia de negócios. Nosso grupo está investigando um pouco esse processo.
OPEU: Em abril de 2021, Joe Biden anunciou a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão. Como esse evento reflete sua política intervencionista dos últimos governos? Sobre esse aspecto, é possível fazer um paralelo entre os casos afegão, sírio e iraquiano?
Olha, eu acho que são questões distintas, inclusive o Afeganistão não é só a questão geográfica. O Afeganistão, de uma certa forma, por incrível que pareça, não tem muito impacto no Oriente Médio. A política no Afeganistão é muito mais ligada às questões da Ásia Central e, propriamente, subindo aí para a Rússia. Sempre dou isso como exemplo, porque, independentemente de toda a movimentação que houve no Afeganistão, não se difundiu para o Oriente Médio, de nenhuma forma. A gente pode voltar isso para discutir o Estado Islâmico, mas eu diria que, no caso do Afeganistão, quem decidiu retirar [as tropas] foi Trump… Na verdade, vamos ser sinceros, foi Obama. É interessante nesse aspecto voltar ao Obama. O Obama dizia: a guerra boa é a guerra do Afeganistão, e a guerra ruim é a guerra do Iraque. É ruim, dizia ele, porque não tem nada a ver com o terrorismo, isso foi um equívoco. E aí Obama deu a diretriz, deu a ordem para fazer a política de surge [escalada militar]. Nunca teve tanta tropa americana no Afeganistão, e nunca teve tanto ataque de drones como no governo Obama, no primeiro mandato, inclusive no território do Paquistão. Mas, depois de um tempo, não houve nenhum resultado. O Talibã continuou forte. A partir desse momento, é que Obama começou a cogitar a possibilidade de se fazer a paz com o Talibã.
Trump assume o governo e leva diante esse processo iniciado por Obama, mas por outras razões. Disse que os EUA estavam envolvidos demais, gastando demais, e deveriam olhar para outro lugar, como a China, por exemplo. E foi assim que Trump começou a negociação com o Talibã, que é um fato muito importante e pouca gente também dá grande destaque. O Talibã, considerado terrorista, começou a ter encontros com diplomatas americanos por ordem do Trump em Doha, no Catar. Então, quando Biden entra, o processo de negociação estava encaminhado. Havia apenas por volta de cinco mil homens no Afeganistão. O que aconteceu que chamou a atenção é que se pensava que ele fosse fazer de forma mais lenta. A ideia era fazer a retirada lá para 11 de setembro, para ter uma questão simbólica importante, mas, na verdade, começou entre abril e maio. O que espantou foi isso, e aquilo que aconteceu se concentrou muito na queda de Cabul. Mas o Talibã já tinha tomado boa parte do território. Não tinha tomado cidades, mas o meio rural estava praticamente na mão dele. Então, acredito que ali no Afeganistão não tenha havido muita interferência do Biden, porque já estava tudo determinado. Portanto, ali tem é o Pentágono, que… É interessante isso… As pessoas, quer dizer, os políticos, tendem a poupar o Pentágono, porque ninguém, nenhum presidente faz uma política sem concordância do Pentágono, e essa doutrina da retirada do Afeganistão já era consensual entre os generais, os comandantes. Aquilo tudo já estava determinado.
 O então presidente Barack Obama agradece aos civis e militares pelo serviço aos EUA, durante visita-supresa à base aérea de Bagram, no Afeganistão, em 28 mar. 2010 (Crédito: sargento-técnico da Força Aérea americana, Jeromy K. Cross/WikiMedia Commons)
O então presidente Barack Obama agradece aos civis e militares pelo serviço aos EUA, durante visita-supresa à base aérea de Bagram, no Afeganistão, em 28 mar. 2010 (Crédito: sargento-técnico da Força Aérea americana, Jeromy K. Cross/WikiMedia Commons)
OPEU: No penúltimo capítulo, o sr. afirma que “as articulações do governo sírio com o Irã e o Hezbollah causaram preocupações no governo dos EUA em virtude do compromisso norte-americano com a segurança de Israel, haja vista Assad, o Irã e o Hezbollah terem, tradicionalmente, se posicionado como inimigos de Israel”. O capítulo expressa, porém, que, embora Rússia e Irã sejam alinhados ao governo sírio, Trump e Vladimir Putin convergiram em alguns momentos nos temas relacionados à segurança de Israel, inclusive com criação da “zona de desescalada” no sudoeste da Síria [nos arredores da região de fronteira com Israel], que estipulou “o afastamento de combatentes estrangeiros apoiados pelo Irã”. Diante dessa discussão, quais são os motivos por trás do papel da Rússia como mediadora das tensões entre Israel e Irã, levando-se em consideração também seus desdobramentos sobre a Síria?
Também volto para uma outra questão que a gente havia conversado no início sobre a questão do Trump e o Putin. Eu diria o seguinte: é muito interessante sempre olhar a partir de hoje, com a questão da Ucrânia, inclusive para a gente estabelecer as diferenças, já que, quando nós escrevemos, não tinha essa questão. Em política internacional, parece uma coisa óbvia, mas nós nos desacostumamos da ideia de que pode ter divergências, pode haver tensão, mas pode haver negociação. Isso nunca deixou de existir entre Trump e Putin. Já Biden em nenhum momento sinalizou qualquer tipo de negociação nessa crise da Ucrânia. Isso não acontecia com Putin e Trump. Eu lembro um certo momento bastante tenso, em que Trump anunciou que ia ter um bombardeio na Síria e avisou os russos antes, para se retirarem.
Outra questão que você perguntou e que em nenhum desses dois artigos nós abordamos e seria motivo para um terceiro: a variável Israel. Aí é uma complicação, por quê? Porque, em primeiro lugar, a Rússia se dá bem com Israel, se dá bem com o Irã e se dá bem com todo mundo. A Rússia no Oriente Médio, olha… É difícil encontrar exemplo de pragmatismo como esse, como eles conseguem apoiar a Síria e não ter problema com Israel. Volto agora para o momento após Ucrânia, inclusive, agora, o primeiro-ministro de Israel [Yair Lapid] fez duas viagens a Moscou durante a guerra. Então, a Rússia não é bem mediadora, é só que ela não entra no confronto, quer dizer, ela permanece entre Irã e Israel, Síria e Israel. Ela, a Rússia, é aliada de ambos.
O lobby de Israel dentro dos Estados Unidos é fortíssimo, como mostra o famoso livro de John Mearsheimer e Stephen Walt [The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, Farrar, Straus and Giroux, 2007], um estudo detalhado sobre o lobby de Israel na política externa norte-americana. Mesmo algumas interpretações da esquerda, como [Noam] Chomsky e outros, que acham que não é lobby, mas é um envolvimento muito maior que lobby, é uma articulação de elite, de classes, dentro dos Estados Unidos. De qualquer forma, ambos acertam na mesma coisa: o apoio a Israel está muito além de partidos e do presidente. Há uma pressão dentro dos Estados Unidos. Se há algo que Israel não vê que vai caminhando bem, reverte-se a política na hora.
Evento sobre o livro The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy
É muito interessante isso, porque, veja só: quando começaram os combates com o Estado Islâmico no terreno, não só o combate aéreo, mas também o corpo a corpo, quem combateu o Estado Islâmico foram os curdos no norte da Síria, a Guarda Revolucionária do Irã, em parte ali do Iraque, e o Hezbollah, na fronteira do Líbano. E, naquele momento também, o que é interessante: Irã e Estados Unidos, por incrível que pareça, tinham o mesmo objetivo na região. Qual era? Manter o governo do Iraque. Os dois tinham o mesmo objetivo, mas, quando entra a variável Israel complica. Se for olhar objetivamente, os Estados Unidos não têm motivo nenhum para se contrapor ao Irã, porque eles eram aliados contra o Estado Islâmico e queriam manter o governo do Iraque. Na questão da Ucrânia, veja, os Estados Unidos não fizeram nenhuma reprimenda forte a Israel por estar se encontrando com Putin, porque a política interna, os partidos, o Congresso fazem com que eles se dobrem a essa vontade. Então, Israel é um caso muito, muito específico, muito especial na política de todo os EUA.
OPEU: Joe Biden se elegeu com a promessa de romper com a estratégia de Donald Trump para o Oriente Médio, prometendo, entre outras coisas, restaurar o acordo nuclear com o Irã. Considerando-se o cenário político atual, marcado pelas consequências da guerra russo-ucraniana, inclusive com as altas dos preços do petróleo, como você observa a política de contenção da influência iraniana no Oriente Médio? Há alguma inflexão na política de Biden nesse sentido?
A primeira coisa que eu acho importante é o seguinte. A primeira impressão que se teve com a guerra da Ucrânia foi que o confronto voltou à Europa e, portanto, haveria uma retração dos EUA no Oriente Médio. Por algum dos motivos que acabo de apontar, tudo leva a crer que ocorra o contrário. Por quê? Porque, com a questão da crise do petróleo e do gás russo para a Europa, os olhares vão se voltar mais ainda para a MENA, acrônimo em inglês que abrange o Norte da África e o Oriente Médio. É isso que eu estou fazendo, uma prospecção. Vou começar pelo Norte da África. A Argélia é um dos principais fornecedores de gás da Espanha e da Itália, além da questão da distância, muito próxima. A Líbia, um grande produtor de petróleo e uma grande reserva do lado e, praticamente, ainda está em guerra civil. Os russos estão lá, sempre aparecendo na Líbia, inclusive, se aliando a alguns grupos já há dois, três anos. A Argélia tem um bom relacionamento com os russos. Inclusive a Gazprom, maior empresa de energia da Rússia e também a maior exportadora de gás natural do mundo, tem ações na empresa argelina de gás.
Então, a atenção ao Norte da África, ao Oriente Médio, aos países do Golfo, àquilo que a gente apontava antes… A Arábia Saudita, por exemplo, continuou com um relacionamento normal, mais do que isso, com os russos, os Emirados Árabes intensificaram. Os países do Golfo, embora tradicionalmente ligados aos Estados Unidos, não se afastaram. Também o Biden, que era um crítico feroz da Arábia Saudita desde quando ele era vice-presidente do Obama… Dizia-se que o príncipe da Arábia Saudita era um corrupto, ditador. Depois, ele [Biden] acusou o príncipe [herdeiro saudita, Mohammed bin Salman] da morte do jornalista [saudita Jamal Ahmad Khashoggi]. Agora, os jornais americanos colocam que Biden quer se reaproximar do príncipe, não é? Então tem essa disputa e, por fim, o Irã.
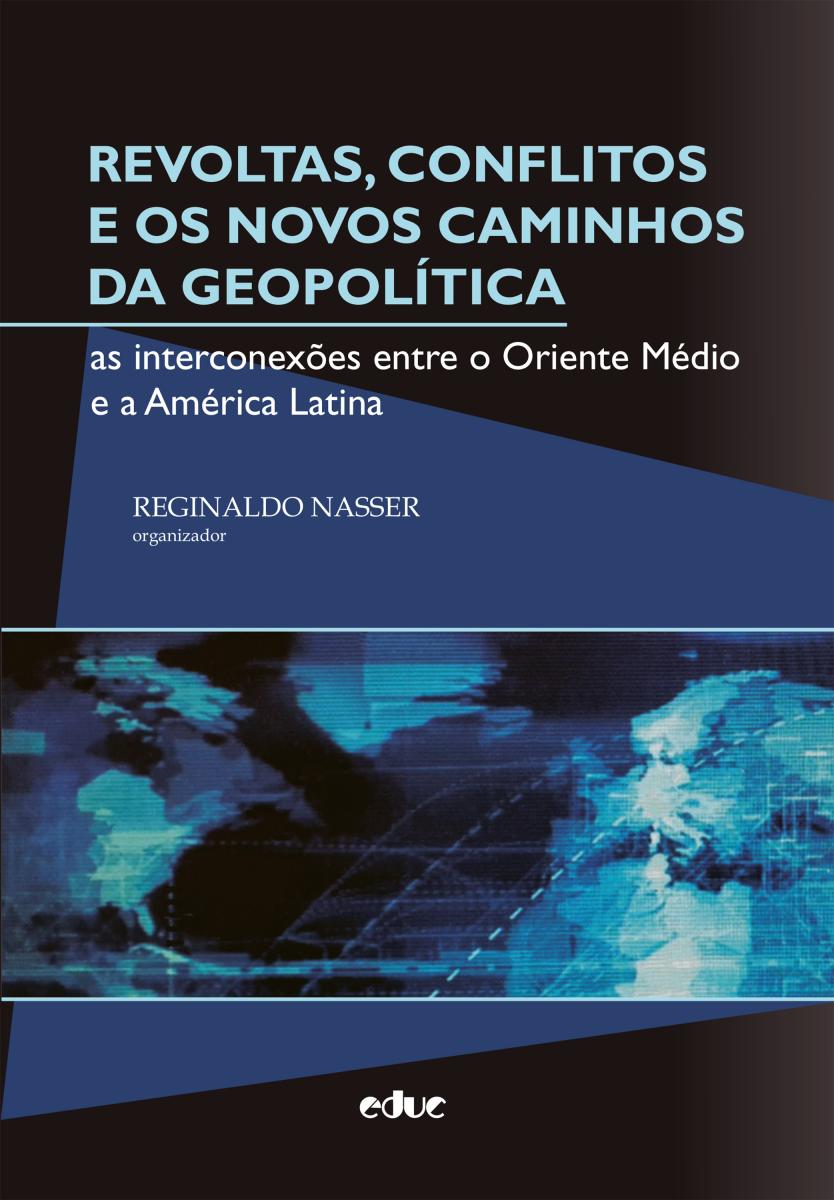 Aí, por um lado, você diz ‘bem, os Estados Unidos, inclusive, já sinalizaram no primeiro momento, Venezuela e Irã, questão do petróleo e, portanto, já se cogita voltar à mesa, que ele teve lá no Obama, que foi o acordo em Viena sobre a questão da proliferação nuclear, de artefato nuclear, do Irã’. Por outro, a ambiguidade… Nada é unidirecional. Por exemplo, o caso de Israel, que nós acabamos por comentar, em relação ao Irã se sentar à mesa. A questão do Irã ainda é complicada, ainda é de difícil equacionamento e, mais ainda, quando, na semana passada, o Irã sinalizou a entrada no BRICS [acrônimo do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul]. Ou seja, nós estamos aí. Já se usou essa metáfora, das camadas geológicas que estão todas se mexendo, e o Oriente Médio volta a ser uma área, uma região de disputa entre Rússia e Estados Unidos…
Aí, por um lado, você diz ‘bem, os Estados Unidos, inclusive, já sinalizaram no primeiro momento, Venezuela e Irã, questão do petróleo e, portanto, já se cogita voltar à mesa, que ele teve lá no Obama, que foi o acordo em Viena sobre a questão da proliferação nuclear, de artefato nuclear, do Irã’. Por outro, a ambiguidade… Nada é unidirecional. Por exemplo, o caso de Israel, que nós acabamos por comentar, em relação ao Irã se sentar à mesa. A questão do Irã ainda é complicada, ainda é de difícil equacionamento e, mais ainda, quando, na semana passada, o Irã sinalizou a entrada no BRICS [acrônimo do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul]. Ou seja, nós estamos aí. Já se usou essa metáfora, das camadas geológicas que estão todas se mexendo, e o Oriente Médio volta a ser uma área, uma região de disputa entre Rússia e Estados Unidos…
É nisso que eu também estou pensando agora, em termos de projeto de pesquisa, sempre levantando a perspectiva da própria Otan. Termino lembrando o caso da Otan, porque a Otan saiu de sua área territorial na guerra do Afeganistão, mandou tropas para ocupar o Afeganistão. A Otan enviou assessores militares, treinamentos, serviços de Inteligência para a ocupação do Iraque e atacou a Líbia. Esse foi o ponto de virada. Houve um ataque militar em um país fora do território europeu, da Otan. Eu estou colocando isso que tem e que está circulando na mídia dos formuladores de política: a ideia de que a Otan pode e, com isso, agora, todos os países da Otan se armando, vai aumentar o orçamento militar etc. Que eles, ao invés de deixar isso para os Estados Unidos, porque é muita coisa do Oriente Médio, a Otan ia com pouca coisa, atrás dos Estados Unidos. Coletivamente, porém, a Otan, como uma aliança, vai começar a ter uma atitude mais ativa, mais proativa no Oriente Médio, e aí também com o acordo com o Irã. Então, são esses cenários que despontam. E, portanto, mais tensão na região.
Por fim, tem a questão dos alimentos. O Oriente Médio depende muito do trigo da Ucrânia e da Rússia, é um alimento essencial. O pão é um alimento muito apreciado no Oriente Médio e isso afeta vários países, sobretudo, Egito, mas Líbano e outros também, que foi uma das causas das revoltas árabes. E isso traz mais confusão no Oriente Médio, provável e infelizmente.
OPEU: Gostaria de agradecer por sua participação e daqueles que acompanham as redes do OPEU. Obrigada e até a próxima entrevista, sobre seu livro A luta contra o terrorismo: os Estados Unidos e os amigos talibãs.
Prazer em estar aqui com vocês.
* Haylana Burite é pesquisadora bolsista de Iniciação Científica do OPEU (INCT-INEU/PIBIC-CNPq) e graduanda em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais e Defesa (IRID/UFRJ). Contato: haylanaburite@ufrj.br.
** Primeira revisão: Rafael Seabra. Edição e revisão final: Tatiana Teixeira. 1ª versão recebida em 15 de agosto de 2022. Esta entrevista não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.
*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora Tatiana Teixeira, no e-mail: tatianat19@hotmail.com. Sobre as nossas Newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.
Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Flipboard, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.
Somos um observatório de pesquisa sobre os EUA, com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.





















