George W. Bush e a ‘Cultura da Impunidade’

O então presidente George W. Bush declara o fim da guerra no Iraque sob a faixa ‘Missão Cumprida’, a bordo do porta-aviões ‘Abraham Lincoln’, na costa da Califórnia, em 1º de maio de 2003 (Crédito: J. Scott Applewhite/AP)
Série Excepcionalismo Americano: discursos, símbolos e narrativas de uma nação
Por Augusto Fernandes Scapini*
Em 11 de setembro de 2001, o então presidente George W. Bush se dirigiu à população americana para expressar seu luto pelas mortes ocasionadas pelo ataque terrorista a Nova York naquele mesmo dia e comunicar as atitudes que estavam sendo tomadas para encontrar os responsáveis. No discurso, é possível encontrar elementos e conceitos que estão presentes no pensamento idealista americano, de modo geral, como o excepcionalismo, conforme o seguinte trecho, em tradução livre: “A América foi um alvo de ataque, porque somos o mais luminoso guia à liberdade e à oportunidade no mundo. E ninguém nos impedirá de continuar a brilhar”. Outro elemento que também pode ser identificado no discurso é a predominância do Cristianismo, com a referência do presidente ao Salmo 23 da Bíblia.
O então presidente George W. Bush se dirige à Nação, após os ataques do 11/9 (Fonte: US National Archives)
Essas características idealistas também se fizeram presentes em outro discurso de W. Bush, durante uma sessão conjunta entre o Congresso e o povo americano, em 20 de setembro, porém com o adicional da descoberta de Osama Bin Laden como responsável pelos ataques. Nesse, Bush constrói, definitivamente, a imagem do arqui-inimigo externo que, desde a dissolução da União Soviética, em 1991, esteve ausente na política americana. O então presidente destaca que esse novo inimigo, o terrorista islâmico, não é representado por uma única unidade de poder, pois as organizações terroristas estão presentes em mais de 60 países, sendo o Afeganistão o país de maior influência dessas, e exige que o regime do Talibã entregue os terroristas que se escondem no país. Com isso, Bush deixa claro que os países que não se aliarem aos Estados Unidos na luta contra o terrorismo serão considerados inimigos e, ao detalhar as operações das organizações de segurança, como o FBI (a Polícia Federal dos EUA), define que as ações militares americanas não respeitarão as fronteiras internacionais.
Esse pensamento foi, então, transferido para a autorização militar para o uso da força contra aqueles que realizaram os ataques, aprovada pelo Congresso em 14 de setembro, e para a Patriot Act, assinada por Bush em 26 de setembro. Em linhas gerais, essa legislação permitia aos órgãos de segurança americanos recorrerem à espionagem, sem necessidade de autorização judicial prévia, para deter atos de terrorismo. Esses decretos foram muito criticados por defensores dos direitos civis, apesar de o segundo ter sido estendido pelo governo Barack Obama até 2015 e, depois, absorvido pela Freedom Act, aprovada pelo Congresso no mesmo ano.
Novo paradigma da Guerra ao Terror
Formava-se, então, o novo paradigma das relações exteriores americanas, descrito por John Ashcroft, procurador-geral dos Estados Unidos durante o governo W. Bush, que priorizava a prevenção de atos terroristas – por quaisquer meios necessários – acima da punição de crimes após o fato. Internamente, como explica Cesar Guimarães no texto “Legitimidade e Crise na Política Externa: O Governo de George W. Bush”, publicado em 2008, a nova e prolongada “Guerra Global ao Terror” (GWOT, na sigla em inglês) também afetou comunidades específicas nos Estados Unidos, ocorrendo tanto por parte da própria população (no formato da islamofobia e dos crimes de ódio) quanto do governo, com a criação, por exemplo, do Departamento de Segurança Interna, em novembro de 2002, que pôs em prática a vigilância e a espionagem permitidas pela Patriot Act contra as comunidades muçulmanas.

Por trás da GWOT: o então vice-presidente dos EUA, Dick Cheney; a então secretária de Estado, Condoleezza Rice; e outros membros do gabinete de W. Bush, em 4 jun. 2008 (Crédito: Larry Downing/Reuters)
Essas ações serviram, portanto, para a legitimidade tanto buscada pelo governo Bush, segundo Guimarães, um ponto principal da doutrina Rice (baseada na ex-secretária de Estado durante o governo Bush, Condoleezza Rice) que guiou as relações interiores e exteriores da época. Com o imaginário do inimigo “onipresente” criado, as bases legais (legislações, decretos, órgãos de segurança e apoio congressional) estabelecidas e a população convencida, a “Guerra ao Terror” obteve a legitimação e a “coesão interna”, ainda nas palavras de Guimarães, necessárias para agir internacionalmente.
As invasões e as ações militares ao Afeganistão começaram em outubro de 2001, e as tropas militares estadunidenses permanecem no país até hoje. Este ano, em abril de 2021, duas décadas depois, o presidente Joe Biden anunciou a retirada de suas tropas do país até 11 de setembro, aniversário do ataque a Nova York. Falando em números, um estudo do projeto Costs of War, iniciado por especialistas da Brown University, em Rhode Island, estima que mais de 47 mil civis afegãos foram mortos, entre 241 mil baixas resultantes do conflito de 2001 até abril de 2021, excluindo-se o número de mortes por efeitos colaterais da guerra (como falta de moradia, infraestrutura, alimento, entre outros recursos indispensáveis à sobrevivência humana). Já a contagem do número de mortos durante a invasão americana ao Iraque, iniciada em março de 2003, ainda é alvo de debate, com números variando entre 461 mil a 1,2 milhão de mortes no total, sendo de 60% a 90% compostas por civis.
Ainda há muito que não se sabe sobre esses dois conflitos, sendo diversos documentários, séries, filmes e estudos científicos ainda produzidos a fim de investigar os fatos que ocorreram na época. Um deles é o documentário “A Guerra que Você Não Vê”, produzido pelo jornalista inglês John Pilger, em 2010. Neste, dá-se um maior destaque ao papel da mídia na guerra do Iraque, apontando as falsas informações resultantes das grandes fontes de notícias americanas e as tentativas do governo americano de omitir a verdade e silenciar jornalistas e whistleblowers. Colin Powell, secretário de Estado do governo W. Bush, também é mencionado no documentário. Foi seu discurso perante o Conselho de Segurança da ONU, em 2003, que contribuiu para a legitimação da invasão americana ao Iraque, apesar de ter sido repleto de informações hoje reconhecidamente falsas que denunciavam a produção de “armas de destruição em massa” por parte de Saddam Hussein no país.

O então secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, discursa no Conselho de Segurança da ONU, onde apresenta imagens de satélite com evidências ‘irrefutáveis e inegáveis’ de ADMs no Iraque de Saddam Hussein, o que nunca se comprovou. Na segunda fila, atrás de Powell, está o então diretor da CIA, George Tenet (Crédito: Thomas Monaster/NY Daily News Archive/Getty Image)
Uma das características mais importantes desses conflitos foram as atrocidades cometidas pelas tropas americanas que violaram direitos humanos e cometeram crimes de guerra como tortura, estupro e assassinatos. Os casos mais chocantes ocorreram na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, com as evidências fotográficas dos abusos sendo expostas pela rede de notícias CBS, em 2004. Ainda é muito debatido até que ponto os líderes americanos sabiam, ou ordenaram, esses crimes, com muitos artigos, como o de Erik Eriksen para o Interstate – Journal of International Affairs, apontando, objetivamente, as relações de culpabilidade e de cumplicidade entre os responsáveis.
Como resultado desses abusos, poucos oficiais do Exército foram acusados e condenados pelos crimes. Apesar de os membros do governo não terem reconhecido os abusos em um primeiro momento, Bush, durante um discurso público, em 2004, desculpou-se por tais atrocidades, afirmando, contudo, que esses eventos foram casos isolados e que seriam investigados, mas não representam os valores americanos.
Excepcionalismo americano e a banalização do mal
Não obstante, o excepcionalismo americano que, desde a criação dos Estados Unidos da América, assim como teoriza Hilde Restad, é utilizado pelo imaginário americano para distorcer a realidade, alinhando-se com os interesses da nação, foi questionado pela própria população. A autora explica, em sua obra, American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World (Routledge, 2015), como as atrocidades que criaram a nação (como o extermínio das comunidades nativas), ou até mesmo atos relativamente recentes (como os embargos político-econômicos impostos a Cuba), são justificados por esse imaginário exculpatório, que defende os motivos “puros” e livres de “maldade” do país. Nesse sentido, como poderia se justificar a nação que promete ser “o mais luminoso guia à liberdade e à oportunidade no mundo” cometer atos tão horríveis que, claramente, não tinham a intenção de proteger a população americana, nem levar a democracia e a civilização para o restante do mundo?
 Isso não significaria, entretanto, um “fim do excepcionalismo americano”, como denomina Restad, pois, ao final, esses crimes não foram cometidos contra o próprio povo americano. Assim, a população é mais favorável a condenar a administração de Richard Nixon que, durante o escândalo do Watergate, em 1972, provou-se corrupta, resultando na renúncia do ex-presidente, do que condenar o governo Bush que promoveu a guerra e causou a morte de milhões de não-americanos.
Isso não significaria, entretanto, um “fim do excepcionalismo americano”, como denomina Restad, pois, ao final, esses crimes não foram cometidos contra o próprio povo americano. Assim, a população é mais favorável a condenar a administração de Richard Nixon que, durante o escândalo do Watergate, em 1972, provou-se corrupta, resultando na renúncia do ex-presidente, do que condenar o governo Bush que promoveu a guerra e causou a morte de milhões de não-americanos.
Nesse contexto, Sarah Jones, em um artigo para a New York Magazine, denuncia a redenção de Bush promovida pela classe política, a qual ela critica por ser assimetricamente bipartidarista. Enquanto os conservadores condenam todos os aspectos do governo Barack Obama, por exemplo, os liberais, por sua crença nas instituições políticas que promoveram a chegada de Bush e Trump ao poder, perdoam-nos. Assim, George W. Bush ainda é humanizado pela mídia, pelas celebridades e até por membros do Partido Democrata, como se viu em recente aparição do ex-presidente no programa de audiência Jimmy Kimmel Live. Nele, faz-se piada, entre outros eventos ocorridos em seu governo, de um incidente de 2008, quando o jornalista iraquiano Muntadhar al-Zaidi jogou seus sapatos no então presidente, em protesto às mortes resultantes da guerra no Iraque.
Portanto, a “cultura da impunidade”, referenciada no documentário de Pilger –, que permite os presidentes e políticos, considerados por muitos como “criminosos de guerra”, e as grandes redes de notícias, responsáveis pela disseminação de informações falsas, a continuarem exercendo influência política sobre a população –, está intimamente relacionada com o conceito do excepcionalismo americano.
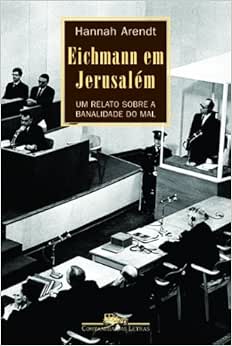 Em sua obra Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal (Cia das Letras, 1999), originalmente publicada em 1963, Hannah Arendt introduz o conceito de “banalidade do mal”, que pode ser aplicado à cultura da impunidade. Como ela explica, o “mal” se torna banal, quando é incorporado pelos sistemas e pelas instituições democráticas, por meio da circulação e da naturalização de mentiras que abrem as portas para ideais totalitaristas, levando ao cenário extremo, no qual a sociedade passa a concluir, democraticamente, que deve liquidar partes de si própria para o bem maior.
Em sua obra Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal (Cia das Letras, 1999), originalmente publicada em 1963, Hannah Arendt introduz o conceito de “banalidade do mal”, que pode ser aplicado à cultura da impunidade. Como ela explica, o “mal” se torna banal, quando é incorporado pelos sistemas e pelas instituições democráticas, por meio da circulação e da naturalização de mentiras que abrem as portas para ideais totalitaristas, levando ao cenário extremo, no qual a sociedade passa a concluir, democraticamente, que deve liquidar partes de si própria para o bem maior.
Com isso, esses ideais se escondem por trás de justificativas de liberdade de expressão e de motivos “puros” de proteção às liberdades para evitar consequências negativas. Nessa linha de raciocínio, o excepcionalismo americano pode ser visto como um artifício da banalização do mal, funcionando como um meio de justificativa para atos que se aproximam do totalitarismo e do imperialismo contemporâneo. Com essa análise, podemos entender como o perdão e o esquecimento das ações de políticos como W. Bush, Powell e, embora não sendo desenvolvido por este artigo, Donald Trump, reforçam a cultura da impunidade que, por sua vez, abre portas para os crimes contra a humanidade sancionados pelo Estado.
* Augusto Fernandes Scapini é graduando em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais e Defesa (IRID/UFRJ).
** Recebido em 16 jun. 2021 e publicado sob a supervisão da editora do OPEU e professora colaboradora do IRID-UFRJ, Tatiana Teixeira. Este Informe não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.
Assessora de Imprensa do OPEU e do INCT-INEU, editora das Newsletters OPEU e Diálogos INEU e editora de conteúdo audiovisual: Tatiana Carlotti. Contato: tcarlotti@gmail.com.
Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.
Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Flipboard, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.





















