Teoria das Janelas Quebradas e o consenso securitário neoliberal

Fonte: Partnership Schools
Quarto da série “Relações BR-EUA em matéria de Segurança Pública”
Por João Gaspar* [Informe OPEU] [Série] [Segurança pública] [Brasil-EUA]
Nos Informes anteriores desta Série OPEU, exploramos as relações institucionais, mais ou menos informais que sejam, entre Brasil e EUA em matéria de Segurança Pública. Ou seja, debruçamo-nos até aqui sobre o que podemos chamar de a dimensão “pública” de tal relacionamento. Isso porque tomamos como nosso objeto de análise os intercâmbios que se vêm dando especificamente entre corporações policiais brasileiras e estadunidenses, com uma maior ou menor mediação, a depender do período histórico em questão, por parte do Estado, em relação ao contato entre os servidores de ambas as nações.
Consulte os Informes anteriores desta Série OPEU aqui: “Segurança Pública na Dependência”, “A cooperação policial entre Brasil e EUA no marco do Imperialismo” e “Ingerência externa: exceção ou regra?”.
Para darmos prosseguimento ao nosso estudo, traremos à baila, agora, a dimensão “privada” da “cooperação” entre ambos os países em matéria de Segurança Pública, buscando compreender materialmente os fluxos internacionais de ideias em policiamento e crime que circulam, por intermédio, sobremaneira, de think tanks localizados no Brasil e no EUA, entre ambos os países.
Particularmente, atentar-nos-emos, pelo impacto que esta têm, concretamente, sobre a política – e, pois, sobre a sociedade de modo geral, ou seja, sobre nossas vidas cotidianas –, àquela constelação de ideias securitárias intimamente associada ao neoliberalismo enquanto agenda multissetorial, constituindo, verdadeiramente, sua seção de Segurança Pública.
Referimo-nos, pois, ao complexo ideacional derivado da Teoria das Janelas Quebradas e do conjunto original de políticas públicas nela baseadas, a Doutrina de Tolerância Zero. De fato, ambas serão, após construído o consenso interno nos EUA, exportadas mundo afora. Então, passarão por um processo de vulgarização, em maior ou menor grau, e de adaptação às condicionantes histórico-materiais e aos interesses hegemônicos locais, servindo, dessa forma, para a construção de um consenso neoliberal em Segurança Pública também noutros países.
Por óbvio, não está sujeito ao acaso esse movimento – que aponta do centro para a periferia – de ideias: pelo contrário, está inserido naquela mesma estrutura imperial que já expusemos nesta Série. Nesse sentido, ele vem a ser ordenado conforme os interesses, primeiro, da burguesia estadunidense, internacionalmente hegemônica, e então dos grupos dominantes locais que vêm a importar as construções teórico-práticas do centro para manterem e aprofundarem o seu domínio sobre as suas sociedades – nem que para isso tenham de, eles próprios, submeterem-se ao estrangeiro.
Pois bem. Com tudo isso em mente, e considerando que a “hegemonia a nível internacional trata-se de uma expansão natural daquela hegemonia no âmbito interno do Estado” (Vidal e Brum, 2020, p. 111), faremos, antes de tudo, um breve repasse do processo de construção do consenso neoliberal em Segurança Pública nos EUA. Este será o objeto do presente texto, bem como do próximo Informe desta Série.
Em seguida, mais à frente nesta Série OPEU, passaremos à efetiva análise da dimensão “privada” das relações BR-EUA em matéria de Segurança Pública, entendendo-a como motor do processo de construção de um consenso semelhante àquele estadunidense em nosso meio, aqui na periferia.
Manhattan Institute e seu modus operandi
O consenso securitário neoliberal nos EUA será construído em torno ao e a partir do Manhattan Institute for Policy Research (MI), um think tank neoconservador da Cidade de Nova York preocupado com oferecer soluções “baseadas em evidências” para problemas urbanos relacionados especialmente a criminalidade e policiamento e a questões raciais.
Criado em fins da década de 1970 pelo futuro Diretor da Inteligência Central do governo Ronald Reagan, William J. Casey, e pelo “pai-de-todos” do mundo dos think tanks neoconservadores – fundador, destacadamente, do Institute of Economic Affaires (IEA) e da Atlas Network –, Anthony Fisher, o MI se diferencia dos seus pares por sua complexa estratégia de inserção de suas ideias no debate público.
De um lado, tal instituto investe grandes montantes de dólares, empregando pensadores e fazendo-os produzir, publicando os trabalhos concluídos em seu âmbito na forma de livros, sempre contratando para tanto – estrategicamente, perceba-se – editoras comerciais. E isso, além de editarem e publicarem sua própria revista, o City Journal, cujos artigos não raro vêm a ser republicados, em formas mais enxutas, em grandes jornais do país, como The Wall Street Journal e The New York Times.
.jpg) Capas do City Journal (Fonte: MI)
Capas do City Journal (Fonte: MI)
De outro, o MI organiza simpósios, aulas magnas, eventos de lançamento de livros e, sublinhe-se, grandes jantares no coração da Cidade de Nova York, com a presença de figuras do empresariado e de políticos locais. Além disso, em seu sítio virtual, são disponibilizados podcasts, gravações de conferências, artigos curtos, indicações de obras, minibiografias de nomes associados ao MI etc.
A questão da publicação de livros por meio de editoras comerciais dá mostra do caráter político do trabalho do MI. Afinal, como exposto por Janny Scott, prefere-se fazê-lo, a publicar de forma independente, para que as obras a) tenham maior credibilidade (devido ao tratamento gráfico, à edição do texto, ao próprio “status” do selo editorial pelo qual saíram etc.); b) para que, nos jornais de grande circulação do país, apareçam resenhas dos títulos; e, vejamos só, c) para que não se fale apenas para os “convertidos”, isso é, para que se consiga influenciar, com as ideias desenvolvidas a partir do capital reunido no MI, pessoas das mais diversas posições políticas.
O fato de milheiros de exemplares do City Journal serem sempre distribuídos gratuitamente entre jornalistas, acadêmicos e empresários corrobora essa observação.
E tudo isso se dá, precisamente, para que o MI venha a cumprir de forma mais completa e efetiva sua função orgânica perante a burguesia estadunidense, à qual serve. Afinal, o capital reunido no instituto é direcionado para a formulação de teorias, para a publicização destas e para a ativa informação das elites dirigentes dos EUA com as mesmas, em prol dos capitalistas estadunidenses.
Uma vez informados os políticos e funcionários públicos que estão no poder ou que podem a ele ascender, passa-se da teoria à prática: aquelas ideias paridas no seio do MI dão, então, lugar a políticas públicas nelas baseadas, pelo que a partir daí se vai, paulatinamente, construindo um consenso, ao divulgá-las como “de sucesso”, valendo-se dos mesmos instrumentos acima descritos. Por fim, basta defendê-las das críticas, no debate público, novamente pelos mesmos meios, gerenciando, pois, o consenso estabelecido. Voilà!
A Teoria das Janelas Quebradas
Em matéria de Segurança Pública, três nomes são centrais no momento inicial de formulação teórica, quais sejam: James Q. Wilson, George L. Kelling (pesquisador sênior do MI) e sua esposa, Catherina M. Coles.
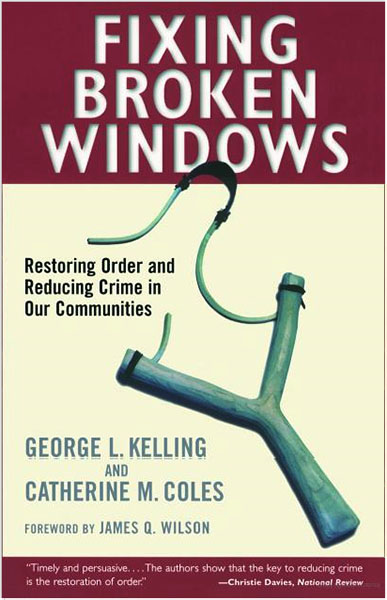
Juntos, com o financimento do Manhattan Institute, eles desenvolverão o que ficará conhecido como a Teoria das Janelas Quebradas, a partir de uma série de publicações patrocinadas e divulgadas pelo MI. Entre elas, destacamos o artigo “Broken Windows: the police and neighborhood safety” [“Janelas Quebradas: a segurança da polícia e da vizinhança”, em tradução livre], publicado por Kelling e Wilson na edição de março de 1982 da popular revista The Atlantic; e o livro “Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities” [“Consertando Janelas Quebradas: Restaurando a Ordem e Reduzindo o Crime em Nossas Comunidades”, em tradução livre], publicado por Kelling e Coles, em 1996, pela editora The Free Press (a mesma que trouxe à luz, em 1992, “The End of History and The Last Man”, de Francis Fukuyama, e, em 1994, “The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life”, de Charles Murray e Richard Herrnstein), com prefácio de Wilson.
A teoria por eles elaborada – que jamais foi submetida a uma revisão por pares, por parte dos autores, nem nunca veio a ser comprovada pelas pesquisas que a tomaram por objeto – apoia-se em um experimento conduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo. Diz, basicamente, que a “desordem” (sujeira, pequenos ilícitos, práticas como mendicância e prostituição, “baderna política” etc.) existente nas cidades aumentaria a propensão dos indivíduos ao crime.
Nesse sentido, Wilson, Kelling e Coles:
1) deslocam o foco de análise na Segurança Pública do crime efetiva ou potencialmente consumado para a “sensação” de insegurança que têm os cidadãos de bem quando frequentando os espaços públicos, de modo a assim determinar sobre o que ou sobre quem o Estado deve agir para reduzir os índices de violência urbana, “bem-alocando seus recursos escassos”, conforme lemos no artigo de 1982 (p. 1-2, tradução e grifos nossos):
… Muitos cidadãos, é claro, se assustam principalmente com o crime, especialmente o crime envolvendo um ataque repentino e violento de um estranho. Esse risco é muito real, tanto em Newark como em muitas cidades grandes. Mas tendemos a ignorar outra fonte de medo – o medo de ser incomodado por pessoas desordeiras. Não são pessoas violentas, nem, necessariamente, criminosas, mas pessoas de má reputação, obstrutivas ou imprevisíveis: vendedores ambulantes, bêbados, viciados, adolescentes desordeiros, prostitutas, vadios, os mentalmente perturbados.
2) paralelamente a autores como Gary Becker, expoente da Teoria Econômica do Crime, trazem à dimensão securitária o individualismo metodológico típico da microeconomia – bem como a noção de recursos escassos e uma série de axiomas vulgares –, pelo que o incorrer em um delito passa a ser visto como mera opção ou escolha tomada pelo sujeito, em toda a sua racionalidade e total ciência dos fatos, conforme exposto por William Bratton (apud Manhattan Institute, 2020, tradução nossa):
Agora entendemos que o crime é causado por indivíduos, e que a polícia existe para controlar o comportamento dos indivíduos, mas para fazer isso de forma compassiva, consistente e constitucional. Esse é o nosso desafio. E isso é algo pelo qual George [Kelling] sempre lutou e escreveu.
 (Arquivo) Bill Bratton, em evento promovido pelo MI (Fonte: MI)
(Arquivo) Bill Bratton, em evento promovido pelo MI (Fonte: MI)
3) associam-se claramente, enfim, a um projeto societário burguês, em primeiro lugar, e também neoconservador, contribuindo para sua efetivação, informando políticas públicas de verdadeira coerção policial sobre condutas desviantes ao padrão moral da “elite” (cristã, branca e de direita), além de proporem a “limpeza” dos espaços urbanos (no limite, a gentrificação dessas áreas), com toda a carga polissêmica desse termo, como podemos apreender do artigo publicado na The Atlantic (1982, p. 6-7, 10, tradução e grifos nossos):
… Os policiais de patrulha podem ser incentivados a ir e voltar de seus postos de trabalho no transporte público e, enquanto estiverem no ônibus ou no metrô, fazer cumprir as regras sobre fumo, bebida, conduta desordeira e coisas do gênero. A fiscalização não precisa envolver nada mais do que expulsar o infrator (…). Talvez a manutenção aleatória, mas implacável, de padrões nos ônibus leve a condições que se aproximem do nível de civilidade que hoje consideramos garantido nos aviões.
… Essas acusações existem não porque a sociedade quer que os juízes punam vagabundos ou bêbados, mas porque quer que um policial tenha as ferramentas legais para remover pessoas indesejáveis de uma vizinhança, quando os esforços informais para preservar a ordem nas ruas falharam.
… Acima de tudo, devemos retornar à nossa visão, há muito abandonada, de que a polícia deve proteger as comunidades e também os indivíduos. Nossas estatísticas de crimes e pesquisas de vitimização medem as perdas individuais, mas não medem as perdas comunitárias. Assim como os médicos agora reconhecem a importância de promover a saúde, em vez de simplesmente tratar doenças, a polícia – e o restante de nós – deve reconhecer a importância de manter intactas as comunidades sem janelas quebradas.
É interessante notar como os próprios autores aperceberam os problemas morais associados às suas proposições: Será certo prender tal ou qual bêbado, tal ou qual mendigo? O que caracteriza um indivíduo como “indesejável” na sociedade? Excluir alguém da sociedade por “sê-lo”, não será algo “errado” de se fazer?
Aproximando-se, todavia, da tradição ética categórica, de Immanuel Kant¹, resolvem (ou ao menos minimizam) as contradições ali existentes.
A pergunta primeira a ser feita, então, acima de quaisquer outras, deveria ser: Se todos agíssemos igualmente, de tal ou qual maneira – como bêbados, como mendigos, como prostitutas etc. –, sobre-existiria a sociedade? Se não, temos a resposta: há que se combater esses comportamentos, pois eles serão os “errados” da história, até porque “podem destruir a comunidade mais rapidamente que qualquer quadrilha de assaltantes profissionais” (Kelling e Wilson, 1982, p. 10, tradução nossa).
No próximo Informe OPEU desta série, exploraremos como todas essas ideias serão levadas à prática, informando o conjunto original de políticas públicas classistas conhecidas como Doutrina de Tolerância Zero, implementadas pela primeira vez na Cidade de Nova York por William Bratton e George L. Kelling, no governo de Rudolph Giuliani, nos anos 1990. ![]()
¹ Nas palavras dos próprios Kelling e Wilson no seu artigo de 1982 (p. 7, tradução nossa), “Uma regra particular que parece fazer sentido no caso individual não faz qualquer sentido quando feita uma regra universal e aplicada para todos os casos”.
Conheça outros textos do autor para o OPEU
Informe “Ingerência externa: exceção ou regra?”, em 19 abr. 2025
Informe “A cooperação policial entre Brasil e EUA no marco do Imperialismo”, em 14 abr. 2025
Informe “Segurança Pública na Dependência”, em 10 abr. 2025
Informe “A lisergia material de Trump 2.0”, em coautoria com Morgana Trintin, em 7 mar. 2025
Informe “Atuação da USAID em matéria de Segurança Pública no Brasil (1950 – 1970)”, em 24 fev. 2025
Informe “Reflexões sobre Trump, Musk e a simbiose público-privada nos EUA”, em 11 fev. 2025
Informe “AIPAC x SQUAD: o ‘lobby’ israelense para impedir candidaturas progressistas nos Estados Unidos”, em coautoria com Camila Vidal, em 8 jan. 2025
Informe “O que significa Marco Rubio como secretário de Estado para a política externa dos EUA?”, em 15 nov. 2024
Informe “O evangelho d’O Sonho Americano, pela Rede Globo”, em 13 nov. 2024
* João Gaspar é graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista do Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA-UFSC) e colaborador do projeto “O poder das ideias e a manutenção hegemônica através do consenso: Estados Unidos e América Latina”. Contato: joaogkg@hotmail.com.
** Revisão e edição: Tatiana Teixeira. Recebido em 22 abr. 2025. Este e os próximos Informes desta série derivam de uma pesquisa que vem sendo conduzida no âmbito do projeto “O poder das ideias e a manutenção hegemônica através do consenso: Estados Unidos e América Latina”, sob orientação da professora Dra. Camila Feix Vidal. Este conteúdo não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.
*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: tatianat19@hotmail.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.
Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.
Siga o OPEU no Instagram, X/Twitter, Linkedin e Facebook
e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.
Somos um observatório de pesquisa sobre os EUA,
com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.





















