Camila Vidal: ‘Trump quer atuação mais seletiva da USAID’
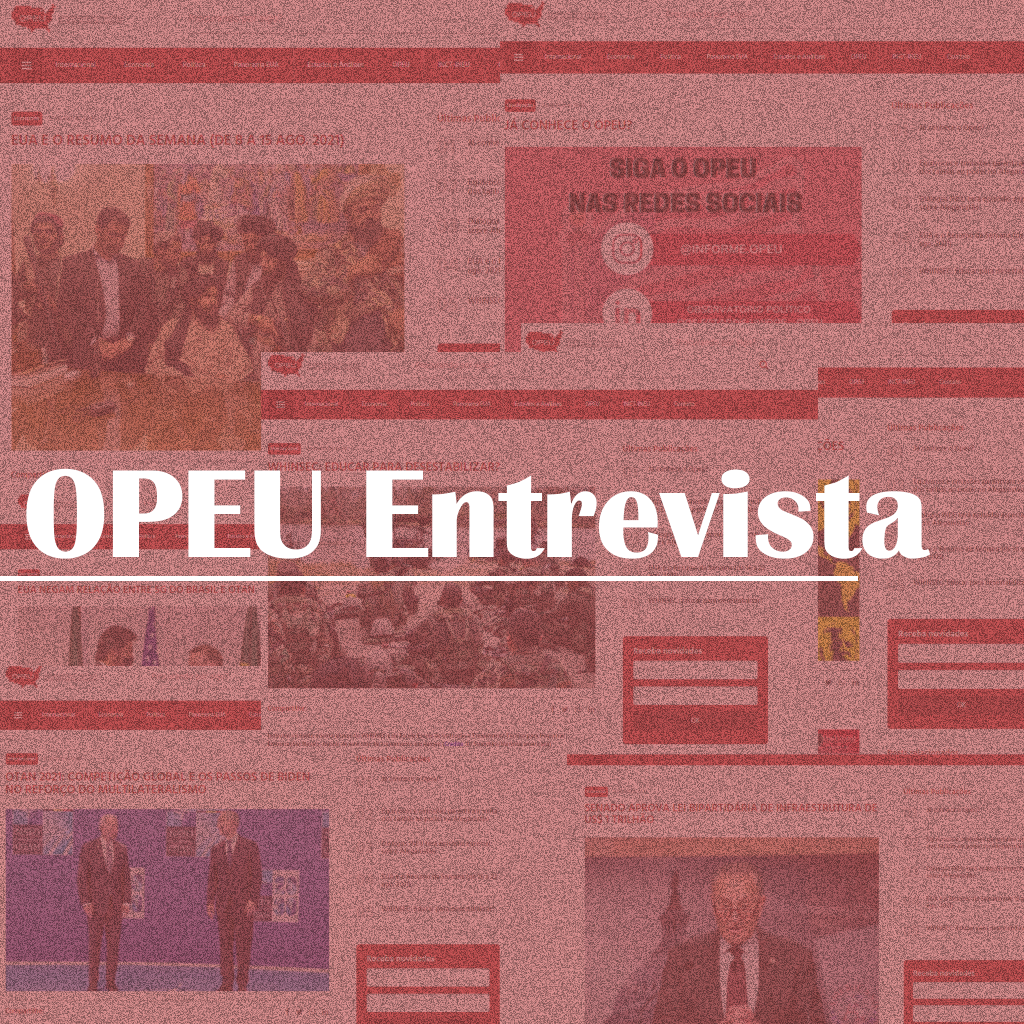
Crédito: Natália Constatino
Por Tatiana Teixeira* [OPEU Entrevista] [USAID] [Trump 2.0] [Chutando a Escada]

Profª Camila Vidal
Neste OPEU Entrevista especial, trazemos a transcrição do episódio n. 366, intitulado “USAID sob Trump 2.0”, no podcast Chutando a Escada, no âmbito de uma parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Nele, a editora-chefe do OPEU, Tatiana Teixeira, conversa com a professora e pesquisadora Camila Vidal, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sobre as origens e os propósitos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O conteúdo está disponível, na íntegra, no YouTube, Spotify e Apple Podcasts.
OPEU: Camila, seja muito bem-vinda! É um prazer ter você aqui.
Camila: Obrigada, Tati! Um prazer estar aqui de novo, né? Segunda vez no Chutando a Escada. E no OPEU, bom… já perdi de vista a quantidade de parcerias que tocamos lá. Mas é sempre muito bom estar com vocês. E agora, sendo mediada por você, uma pesquisadora e amiga que admiro tanto!
Bom, eu sou professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Faço parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU. Faço parte também do Instituto de Estudos sobre a América Latina, o IELA, aqui na UFSC, e do Núcleo de Pesquisa em Política Internacional, Segurança e Defesa, também na UFSC.
Bom, essa é minha trajetória acadêmica. A Camila aqui também é mãe de dois meninos! E venho tratando da dimensão, sobretudo, da política externa dos Estados Unidos para a América Latina, de uma perspectiva histórica e também mais contemporânea.
OPEU: Uma área que tem tudo a ver com o episódio que a gente está tratando hoje.
Bom, desde o início do governo Trump 2.0, a USAID tem ocupado as manchetes dos jornais por conta das medidas que estão sendo implementadas pelo governo. Essas medidas afetam a agência diretamente e afetam também os países que são atendidos por ela, de alguma forma.
E aí, de cara — enfim, acho que isso vai aparecer em algum momento na nossa conversa — já dá para antecipar um risco de politização dessa ajuda humanitária, com a ajuda internacional, por exemplo, sendo condicionada a acordos comerciais ou migratórios. E, imediatamente, me vem à cabeça o caso do México.
Bom, uma dessas medidas do governo é o corte drástico de pessoal. E, quando eu falo drástico, é um corte de mais de 10.000 funcionários para menos de 300! Isso para lidar com um programa, uma agência, que tem capilaridade e incidência globais.
Outra medida do governo Trump 2.0 é a mudança de agendas, de foco, e o cancelamento de contratos e programas — principalmente os sociais e voltados para a área climática e ambiental. Agora, em março, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que mais de 80% dos programas da USAID já foram encerrados. Isso significa o cancelamento de pelo menos 5.200 contratos. A justificativa é que muitos desses contratos não serviam aos “principais interesses nacionais” dos Estados Unidos.
E ainda segundo Rubio, os programas que permanecem vão ser administrados pelo próprio Departamento de Estado, e não mais pela agência, que fazia isso de forma, digamos assim, autônoma. Não que fosse fazer o que quisesse, claro, porque sempre esteve sob o Executivo, mas de forma mais autônoma.
Isso é algo que aparece claramente no Projeto 2025, que é uma iniciativa promovida por think tanks conservadores, com a Heritage Foundation à frente, no sentido de esvaziar a USAID para alinhá-la à política America First de Trump e alinhar a ajuda externa aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. […] resumidamente, esse projeto é uma versão radicalizada das políticas do primeiro governo Trump em todas as áreas e que agora aparecem de forma sistematizada.
Bom, voltando à USAID… Essas medidas têm preocupado organizações humanitárias e parceiros internacionais, se a gente olhar para o plano internacional. E, nos Estados Unidos, essas ações já estão sendo contestadas legalmente por sindicatos e associações de funcionários públicos. Eles alegam que essas demissões e o cancelamento de contratos violam a Constituição e a separação de Poderes prevista nela. E eu menciono esse último ponto porque é algo que a gente tem visto em outras áreas também, como imigração e educação, e é algo que provavelmente vai aparecer em outros episódios aqui no Escada, seja com o OPEU ou não.
Bom, depois desse retrato inicial de onde a gente está partindo, Camila, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo: o que é a USAID? Quando, por que e para que ela foi criada? E qual é o papel dela na política externa dos Estados Unidos?
Camila Vidal: Bom, então eu vou chamar de USAID, né? Vou aportuguesar aqui.
A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (United States Agency for International Development, USAID) é a principal agência para ajuda internacional dos Estados Unidos. Em números absolutos, é também a maior do mundo.
A USAID foi criada ali na década de 1960, em 1961, logo depois de uma visita, na década de 1950, do Nixon à América Latina. Quem conhece essa história sabe que ele foi muito mal-recebido aqui, principalmente em Caracas, na Venezuela, mas também em outros países por onde passou. Ao retornar então aos Estados Unidos, ele constatou, naquele início de Guerra Fria, que os EUA precisavam exercer um papel mais ativo, estar presentes e influenciar os países da América Latina, porque, da maneira que estava, a União Soviética estava ganhando terreno.
Nesse mesmo momento, começa-se a pensar no estabelecimento de uma organização de ajuda humanitária com atuação externa e que, na realidade, concentraria uma série de programas que vinham sendo desenvolvidos externamente, mas que eram programas muito focais, em algumas regiões… Não existia, naquele momento, uma entidade que supervisionava todos esses programas, e isso ficava a cargo do próprio Departamento de Estado.
Então, a USAID foi criada em 1961, estamos falando de governo Kennedy, para gerenciar esses projetos em andamento e para criar outros, claro, sob a supervisão dessa nova agência governamental, que é vinculada ao Departamento de Estado e, anualmente, tem seu orçamento aprovado pelo Congresso dos EUA. Desde então, no momento em que ela iniciou suas atividades, já começou com escritórios em alguns países, a exemplo do Brasil. Desde a década de 1960, temos aqui um escritório da USAID, localizado em Brasília, e isso é feito em outros tantos países. Hoje, são mais de 160 países que possuem ou um escritório ou uma sede da USAID.
Você mesma comentou que são cerca de 10.000 funcionários. Um terço deles está em Washington, nos EUA, e dois terços estão no exterior, nesses escritórios ao redor do mundo e… com um orçamento gigantesco, né? Até então, em 2024, o orçamento aprovado pelo Congresso, só para ter uma ideia, foi de US$ 31 bilhões.
 Além disso, eu gosto de recontar um pouco essa trajetória histórica da USAID porque, quando comento que ela supervisionou determinados projetos… Por exemplo, foi ela quem supervisionou a Aliança para o Progresso. Inclusive, há um livro do nosso colega Felipe Loureiro [A Aliança para o Progresso e o governo João Goulart (1961-1964), Editora Unesp, 2020] que analisa a Aliança para o Progresso a partir de documentos obtidos nos National Archives, evidenciando como esse programa, que deveria ser de ajuda humanitária e desenvolvimento — e, não à toa, supervisionado pela USAID —, foi usado para fins políticos.
Além disso, eu gosto de recontar um pouco essa trajetória histórica da USAID porque, quando comento que ela supervisionou determinados projetos… Por exemplo, foi ela quem supervisionou a Aliança para o Progresso. Inclusive, há um livro do nosso colega Felipe Loureiro [A Aliança para o Progresso e o governo João Goulart (1961-1964), Editora Unesp, 2020] que analisa a Aliança para o Progresso a partir de documentos obtidos nos National Archives, evidenciando como esse programa, que deveria ser de ajuda humanitária e desenvolvimento — e, não à toa, supervisionado pela USAID —, foi usado para fins políticos.
Os recursos iam, sobretudo, para governos locais oposicionistas ao João Goulart, e esse é o caso do Carlos Lacerda, na Guanabara; é o caso do Ademar de Barros, em São Paulo; e do Magalhães Pinto, em Minas Gerais, que receberam praticamente todo o montante enviado para esses governos locais. Não à toa, esses eram justamente os governos conhecidos por sua oposição ao João Goulart naquele momento, no início da década de 1960.
Logo depois, a USAID também vai atuar no Brasil, num acordo específico com o nosso Ministério da Educação e Cultura, o acordo MEC-USAID, nos primeiros anos, nos primeiros momentos do regime militar. Nesse momento, veremos alguns projetos supervisionados pela USAID aqui no Brasil, em termos de segurança pública.
Por fim, para fazer esse panorama geral da USAID, mais historiográfico também, lembro sempre do lema deles, que acho muito indicativo de como eles se veem enquanto organização. O lema da USAID é “do povo dos Estados Unidos” e, a todo momento, eu tive a chance de participar de uma reunião com eles, de um edital apresentado aqui para o Brasil, isso ficava muito claro. A ideia era: “É um presente do povo dos Estados Unidos para vocês, brasileiros”.
O objetivo, por fim, e aí já encerro essa apresentação mais geral da USAID — e aqui cito literalmente —, é de apoiar os parceiros a se tornarem autossuficientes e capazes de liderar suas próprias jornadas de desenvolvimento e promover a prosperidade americana por meio de investimentos que expandam os mercados para as exportações dos Estados Unidos e criem condições equitativas para as empresas dos Estados Unidos. Esse é o objetivo, está no site da agência. Então já de cara, vemos o papel e o interesse material, em termos de lucro mesmo, do capital, por trás dessa agência e sua roupagem humanitária.
OPEU: Essa resposta traz várias camadas, né? Falando “do povo”, mas qual é o povo? É o próprio povo dos Estados Unidos, né? Investir para trazer de volta mercados, etc.
Você trouxe que a USAID (vou usar “USAID” também, muito melhor) foi criada no contexto da Guerra Fria, um contexto de batalha ideológica, um enfrentamento com a União Soviética. Ela foi criada no sentido de aumentar, talvez, o poder de atração dos Estados Unidos e, aí, pensando em nosso entorno geográfico imediato, o Western Hemisphere… Os Estados Unidos consideram todo o continente como sua esfera de influência imediata. A ideia era aumentar a penetração e o poder de atração para ampliar e facilitar a presença dos Estados Unidos nos países latino-americanos e no continente de modo geral.
E aí, trazendo isso para o presente — já que você traz que a USAID é uma espécie de braço de soft power do Departamento de Estado — talvez não tão soft assim, né? Isso a gente pode recuperar daqui a pouco… Mas, pensando no governo Trump 2.0, pode diminuir a amplitude, a envergadura, a penetração da USAID. A gente sabe que não é só um corte de pessoal, mas também de recursos e programas. Isso não enfraquece os Estados Unidos, por exemplo, na disputa com a China? Porque a gente vê — só falando no nosso entorno mais imediato — o aumento da influência chinesa na América Latina, o que é preocupante para os EUA.
Então, a pergunta é, para quem está ouvindo entender: para o governo Trump, há mais ganhos ou… por que tomar essa decisão em relação à USAID, se ela traz essa perda? Acho que é mais essa a pergunta.
Camila Vidal: Essa é uma questão que sempre é feita, porque, quando a gente começa a tratar da historiografia da USAID, evidenciando seu papel, direta ou indiretamente, em apoiar governos e capacitar oposições a governos democraticamente eleitos… a gente espera que, em um governo como o de Trump, isso se manteria. Mas eu diria o seguinte — e essa é uma leitura muito minha —: que a USAID se tornou tão grande que se transformou em uma verdadeira indústria humanitária. Ela tem projetos e entidades parceiras, de modo que, em determinado momento, se perde um pouco o controle por parte do Departamento de Estado.
Entendo que a tentativa de Trump agora é retomar esse controle, trazer de volta para suas mãos: “esse projeto nos interessa, esse não”, fazendo realmente uma varredura. Ele pediu 90 dias para isso, então ele não fechou completamente a USAID, mas decretou esse congelamento por 90 dias para, supostamente, realizar essa revisão.
Lembrando que, tradicionalmente, a USAID foi mais apreciada dentro dos círculos democratas. Ela foi se afastando do Partido Republicano, dos conservadores, e adotando uma linguagem que podemos até dizer mais identitária. Quando você acessava o site da USAID — que agora não pode mais abrir —, via “gênero é nossa prioridade” em todos os aspectos. Aí você trocava de página e encontrava que comunidades quilombolas e indígenas eram o ponto focal deles. Agora, por uma série de decretos e ordens executivas, até mesmo o uso dessa linguagem está sendo questionado.
Então, sim, vejo uma tentativa realmente de enxugar o trabalho feito pela USAID e, de fato, como comentei antes, estamos falando de um orçamento de US$ 31 bilhões. Para enxugar um pouco e direcionar melhor – dentro do que esse governo entende como melhor, no seu suposto interesse nacional – e também ter maior controle.
Gostaria de retomar o ponto do soft power, que você mencionou, porque é genial assim…. Quando falamos dessas estruturas, a USAID, o National Endowment for Democracy (NED) e a própria Freedom House, elas se colocam como instituições humanitárias, com uma roupagem de desenvolvimento, de levar democracia e liberdade, tudo isso que a gente sabe. A gente acaba não fazendo uma análise crítica do que está de fato por trás disso. Sempre trago uma leitura que gosto muito do James Petras que diz que é “a luva de veludo envolta num punho de ferro”. Ou seja, não posso mostrar o punho de ferro, pois não posso dizer que meu interesse aqui está em ampliar os lucros para as minhas empresas. Então, tenho que usar essa luva de veludo, tenho que usar desse artifício do desenvolvimento, da assistência humanitária, para poder atuar e, uma vez atuando lá dentro, aí sim vou buscar meus interesses materiais. Se fizermos essa historiografia, é um pouco isso, né?
Não à toa, a USAID foi expulsa da Rússia e da Bolívia durante o governo de Evo Morales. Inclusive, na Bolívia, foi expulsa porque estava capacitando lideranças indígenas contra o próprio governo. Então, essa dimensão do soft power, que, como você bem colocou, não é tão “soft” assim, carrega ali uma dimensão coercitiva. Às vezes, acabamos esquecendo ou não enxergamos esse punho de ferro, já que ele está envolto nessa luva de veludo.
Aqui no Brasil, esse é um ponto que eu queria tocar, porque acho importante. Historicamente, toquei na questão da Aliança para o Progresso e os acordos MEC-USAID, mas, desde o fim da Guerra Fria, desde a década de 1980, a USAID no Brasil vem focando sua atuação sobretudo na Amazônia. Mais recentemente, o foco tem sido na educação brasileira. Na Amazônia, cabe a gente entender um pouco mais dessa atuação, porque, você há de convir comigo, que se é uma organização governamental estadunidense que tem, entre seus objetivos, uma preocupação com suas empresas, devemos ficar pelo menos de olhos abertos para compreender o que está sendo feito ali na Amazônia.
E, de fato, eles vêm atuando bastante ali. Para você ter uma ideia, o orçamento de 2024 foi de US$ 130 milhões. Eles atuaram em cerca de 32 milhões de hectares na Amazônia, em 189 unidades de conservação ali, e deram assistência técnica para quase 3.000 indígenas. Foram 2.800 indígenas que receberam essa assistência técnica.
E daí a gente vai dando uma olhada em quem são esses parceiros que estão ali junto, apoiando e ajudando, e a gente vê o setor privado, que atua enormemente ali. Então, gigantes do setor privado – não é gente pequena, não. Eu estou falando de Coca-Cola, Google, Ambev, KPMG, Fundo Vale, que são os grandes parceiros da USAID nessa atuação na Amazônia. Eles vão chamar isso de parceria com o setor privado para a conservação da biodiversidade na Amazônia.
Então, por exemplo, para conseguir entender um pouco a tal da capacitação para lideranças indígenas ou para comunidades indígenas: você faz uma parceria lá com o Google e leva computadores, e ali você supostamente ajuda essas comunidades indígenas a se conectarem com a Internet, com esse discurso de capacitação, de emancipação e tudo mais.
Inclusive, é tido como um excelente exemplo dessa capacitação o fato de que algumas dessas comunidades agora, por exemplo, conseguem expandir a cadeia de valor e colocar seus produtos em restaurantes – por exemplo, peixes em restaurantes supercaros e tal. Mas, na realidade, o que é que está acontecendo? Fazendo essa leitura, você está pegando uma população que, às vezes, está até em áreas de conservação, e expondo ela dentro de uma estrutura econômica capitalista, com o discurso da capacitação e da emancipação. E, assim, eu entendo que, OK, nessa perspectiva, talvez esteja coerente, seja coerente. Agora, cabe a nós, enquanto nação mesmo, discutir se é isso que a gente quer, né? Que tipo de preservação para as comunidades indígenas a gente quer? E até que ponto essa “capacitação” é de fato benéfica para essas comunidades ou não?
Um outro exemplo que eu dou é o próprio edital. Eventualmente, eles colocam editais para receber recursos para atuação na Amazônia. Teve o lançamento de um edital em 2023 – esse que eu tive a oportunidade de comparecer lá em Brasília. E esse edital previa que quem tivesse interesse em receber esses recursos para atuação na Amazônia tinha que cumprir uma série de prerrogativas. E uma delas era a emissão de nota fiscal. Naquele momento, uma liderança indígena questionou: “Bom, mas a gente não emite nota fiscal”. Da mesma forma, universidade pública. Nós, aqui, universidade federal, não emitimos nota fiscal. Então, automaticamente, já estamos fora da possibilidade de acessar esses recursos para emprego na Amazônia, supostamente em nome da sustentabilidade. Então, quem é que está sendo beneficiado? Quem é que pode participar? Quem é que emite nota fiscal? Empresas e universidades privadas.
Então, é isso que eu acho que a gente precisa estar olhando. Porque, por trás desse discurso muito humanitário, há uma parceria bastante evidente com o setor privado. E entender isso eu acho essencial.
OPEU: É… Porque você está relatando uma parceria que, na verdade, é excludente – excludente desses mesmos agentes que teriam maior interesse em participar dela e serem agentes transformadores.
E, quando são convocados a participar, seja por essa capacitação, esse treinamento para algum tipo de conservação ou preservação, eles acabam sendo expostos a valores que não necessariamente estão ligados aos valores tradicionais dessas comunidades. E isso pode funcionar, como a gente vê na nossa política, por meio da Justiça. Têm trabalhos já, inclusive, do Arthur Banzatto falando sobre isso, sobre a Lava Jato, sobre como acabam se tornando agentes que podem implodir essa mesma lógica de dentro, cooptando outros membros para irem mudando o seu próprio sistema de pensamento.
E aí, eu acho que a gente pode olhar também – e devolvo para você, se quiser complementar – porque a minha dúvida agora é a seguinte: isso que você levantou sobre o Brasil… A gente olhando para o governo Trump, que é um governo que, claramente, tem uma agenda ambiental que não conversa nem com esse básico que você apresentou, mesmo que seja um básico criado, estabelecido para atender ao interesse das empresas e do capital de alguma forma e com ganhos derivados desse tipo de parceria…
Então, agora, é um discurso meio que nu e cru, né? Porque… Como é que vai ficar essa parceria na Amazônia? Essa era a minha dúvida. De que forma essas mudanças afetam o Brasil realmente? Pensando nesses interesses que não são declarados…
Camila Vidal: Inclusive, enquanto você estava falando “nu e cru”, eu estava anotando exatamente isso. Porque eu vejo o governo Trump agora retirando um pouco essa tal “luva de veludo” e mostrando direto o punho de ferro. Então, pode ser que a gente veja essa mesma atuação na Amazônia, mas agora sem a justificativa ideológica – sendo o mais transparente possível. E isso ele já tem feito no sentido de dizer: “Olha, a gente entende que desenvolvimento é extração de petróleo. Ponto”. “Desenvolvimento é desmatar. OK”. Assim, nesse sentido nu e cru.
Então, a ideia, quer dizer, eu consigo perceber que talvez agora a tônica seja a manutenção da atuação na Amazônia, mas retirando essa dimensão de reflorestamento, de emancipação dos povos indígenas – toda essa tônica humanitária – e colocando o interesse privado em primeiro lugar, sendo bastante transparente com relação a isso.
E, quando a gente fala em interesse em primeiro lugar, estamos falando também do papel da indústria farmacêutica e das patentes nos Estados Unidos. Que, com essa atuação (…)
OPEU: Biopirataria.
Camila Vidal: Sim. Não estou nem estou entrando na biopirataria. Eu estou falando dentro da lógica “honesta” da coisa, digamos assim.
Quer dizer, você está atuando na Amazônia, conversando com comunidades nativas, apreendendo ali delas conhecimentos milenares e geracionais com elas. Você está sendo exposto a uma biodiversidade que é a maior do mundo – e isso falando só da parte conhecida, fora o que ainda não é conhecido. Então, ali é um recurso de poder gigantesco, que pode vir a dar muito dinheiro para a indústria farmacêutica.
Não à toa, quando a gente olha no cadastro aqui do Brasil – o SisGen, que é o Cadastro de Patrimônio Genético –, a gente vê que tudo que passa por esse caminho “correto”, sem falar na biopirataria… A biopirataria seria eu retirar esse material genético da Amazônia, por exemplo, sem avisar, sem cadastrar no sistema do Brasil. Agora, digamos que você cadastre: vai lá e cadastra – “olha, estou retirando esse material aqui e levando para os Estados Unidos” – e lá essa indústria farmacêutica vai patentear um remédio com base nisso, ou, enfim, um cosmético, não sei. E, uma vez patenteado, agora a gente compra dessa indústria farmacêutica estadunidense esse medicamento ou esse cosmético, cujo princípio inicial esteve aqui na Amazônia.
E não à toa, o país que mais retira patrimônio genético da Amazônia, conforme o próprio cadastro no SisGen, é os Estados Unidos. E não à toa é o país que mais tem patentes nessa área – ou seja, que mais faz dinheiro com isso também.
Eu não vejo como o Trump se oporia a isso. O que eu vejo, o que eu acho, é que essa tentativa de reestruturação da USAID é de ter esse controle, assim, mais evidente. Então, inclusive, ir acabando com os terceirizados. Porque, daqui a pouco, você tem um parceiro de uma instituição, que tem parceria com outra, que tem outra parceria, e assim vai, num fluxo de tantas instituições que, daqui a pouco lá no fim, a gente nem sabe exatamente o que está sendo feito, onde está sendo empregado o recurso.
Então, eu vejo isso como uma ideia de retomada do controle mesmo – de ação dos Estados Unidos, de emprego e ação dos Estados Unidos – e mesmo nesses projetos da USAID ou de outras agências dos Estados Unidos.
Depois, até, a gente pode falar, Tati, se você achar interessante, desse programa mais atual. Porque, junto com essa atuação na Amazônia, tem também essa proposta, que já começou a vigorar, de atuação na educação. E aí pega toda aquela ideia de capacitação das comunidades nativas, indígenas, quilombolas, e agora também vai para a educação da rede pública em determinados estados e cidades do Brasil.
OPEU: Eu queria fazer uma pergunta que é bem básica, mas acho que pode ajudar melhor no entendimento de quem está ouvindo a gente.
É o seguinte: você me descreveu algumas coisas que, para mim, parecem claramente que não são do interesse do Brasil. Pensando assim: soberania, interesse nacional, interesse estratégico. Então, queria que você explicasse como funcionam essas parcerias. Isso independe do partido da situação? Como funcionam esses acordos? Como eles são fechados? Eles têm um prazo e vigoram independentemente da mudança de governo? Porque essa atuação que você descreveu, sobretudo na Amazônia, faz muito sentido se a gente pensar em um governo, por exemplo, do Bolsonaro. Mas não faz tanto sentido, por exemplo, num governo Lula. Como que fica isso? E aí eu acho que você completa com educação que pode ser mais um exemplo também pra gente entender como está funcionando.
Camila Vidal: Então, independentemente do governo, o que a gente percebe é que determinadas instâncias e setores governamentais brasileiros constam como apoiadores desse projeto. Em nenhum momento noto um papel do Brasil, seja no governo anterior, seja agora, de questionar isso.
Acho que a ideia… essa roupagem virtuosa foi tão bem construída, executada e bem difundida que, talvez, para essas instâncias, seja complicado questionar ou ir atrás desses dados, não sei…. Então… É para isso que a gente, na universidade, faz pesquisa: para tentar mostrar e evidenciar essas redes e o que está por trás disso.
Porque, de fato, o discurso é muito benéfico. Poxa, como é que eu vou ser contra, sei lá, a capacitação das comunidades nativas? Como é que eu vou ser contra o reflorestamento? Toda a roupagem também envolta em gênero… Tudo é construído de tal forma que você realmente não consegue, no discurso, se colocar contrário. A gente só consegue se colocar e questionar quando passa a ver essas redes de atuação e a entender, sobretudo, o papel da política externa dos Estados Unidos tradicionalmente, e daí, é uma perspectiva que demanda certo conhecimento, porque os Estados Unidos historicamente se utilizaram de várias estratégias de soft power e de organizações humanitárias para atuar, intervir e, inclusive, desmobilizando lutas sociais. Então, nada disso está fora da historiografia sobre o papel dos Estados Unidos na América Latina.
No momento em que a gente tem isso em mente, acho que a gente consegue ter uma visão mais crítica e entender a real dimensão ali, do papel das empresas.
Eu finalizaria dizendo que, para isso, também é necessário ter uma perspectiva dentro das Relações Internacionais mais classista, que entende o papel das classes sociais. Ou seja, por que me incomoda ter uma empresa atuando na Amazônia? Bom, porque entendo que os interesses de um empresário não são os mesmos interesses do restante da sociedade, do proletário, enfim. Daí que percebo essa necessidade de a gente ter também uma perspectiva classista nas Relações Internacionais, que ainda é uma leitura teórica bastante marginalizada. No momento em que eu entendo que são interesses antagônicos – de uma burguesia e de um proletariado que, em nenhum momento, vão se fundir – partindo desse pressuposto, já consigo questionar o papel dessas empresas, por exemplo, na atuação na Amazônia.
OPEU: Pensando na teoria das Relações Internacionais, entraríamos (não é o caso agora) na discussão sobre o próprio início, consolidação e manutenção da disciplina. Ou seja, as Relações Internacionais são ou não uma disciplina americana?
Então acho que você tem toda a razão. A gente tem que começar a olhar para uma literatura menos ocidentalizada, menos americana, digamos assim. Acho que é um trabalho muito para as próximas gerações – e, claro, parte da gente, dentro da sala de aula, trazendo esse “outro lado” para que a gente possa talvez ter gerações mais críticas, tanto em relação aos interesses do Brasil quanto, enfim, dos países periféricos de modo geral. E essa disputa com as potências hegemônicas, principalmente porque estamos em um momento de transição, mas cada vez mais definidor de algumas questões.
Camila Vidal: Exato. E pegando o gancho, Tati, é assim… Porque, quando a gente fala dessas gerações mais críticas, que a gente espera dessas futuras gerações, assim, essa criticidade, essa… não à toa, a atuação agora tem sido, sobretudo, também ali na educação mesmo. E junto com a própria embaixada dos Estados Unidos e diretamente com as empresas.
Então, assim, a USAID agora participa dessa tríade onde, USAID de um lado, empresas estadunidenses, do outro, a embaixada dos Estados Unidos, que formularam ali um projeto chamado Mais Unidos, que impacta… São mais de… Eu não tenho o número agora, mas são assim, dezenas de empresas que atuam junto à missão diplomática dos Estados Unidos aqui no Brasil. E através da USAID, né, que nasce em 2008 esse projeto, e vão atuar diretamente na educação brasileira.
Ah, num primeiro momento a gente pode olhar assim, né… São dois grandes focos ali deles. O primeiro é ensinar inglês; o segundo é ensinar sobre os benefícios do empreendedorismo.
OPEU: Meritocracia.
Camila Vidal: Exato. E olhando num primeiro momento, sem essa perspectiva mais crítica ou sem o entendimento da historiografia mesmo do papel dos Estados Unidos tradicionalmente na América Latina, a gente pode olhar e: “Poxa, mas que bacana, né? Ter cursos de inglês de graça…”. Até porque eles atuam, sobretudo, nas comunidades mais carentes, nas escolas públicas que estão em comunidades mais carentes ali em determinadas cidades – é o caso de São Paulo, por exemplo. E daí você vai ver os parceiros… Também são outros gigantes, como Bank of America. Banco é o que mais tem ali de parceiros, tá?
E tudo bem, né, você dá cursos de inglês. Agora, por exemplo, junto com o curso de inglês, vem esse curso aí de empreendedorismo, que querendo ou não, é você atuando para moldar uma sociedade ali a pensar de uma forma que beneficie essas mesmas empresas. Então, por quê? Porque se eu entendo que ser empreendedor é maravilhoso, eu estou abdicando dos direitos trabalhistas, né? De toda uma agenda ali que foi muito suada para gente conseguir, que agora então, com esse discurso, vai se fragilizando.
Então, não à toa, quando a gente vai ver essas empresas que estão por trás, assim, de novo, são gigantes. É o Bank of America, é o Citibank, é a ExxonMobil, é a Microsoft, é um outro banco, o BNP Paribas, o Hotel Hilton, a Gerdau… Há que se entender o que que está por trás disso, né? E o que que isso de fato nos proporciona.
A gente está falando, daí, de uma ideia de mundo muito dentro de uma perspectiva neoliberal capitalista que solapa, assim, as bases de direitos trabalhistas, de sindicalismo, e tudo mais. E isso tem efeitos geracionais, assim.
 OPEU: A gente vai conseguindo… a gente vai vendo, né, essas estruturas conseguindo cada vez mais naturalizar uma precarização do trabalho. Que não remonta apenas ao trabalho, né? Direitos civis, entre outros direitos. E eu me lembro muito, assim, do falecido Samuel Pinheiro Guimarães. Um livro dele que nunca deixa de ser atual. Eu gostaria que o livro não fosse mais tão atual… É um livro, sei lá, do início dos anos 2000, Quinhentos anos de periferia. Quando ele lista lá uma série de ferramentas e estratégias das estruturas hegemônicas para manterem… para fazerem a manutenção dessa hegemonia, né? Ainda que a gente discuta de que forma, assim, no caso do Trump, se busca a manutenção dessa hegemonia. Você listou várias delas. Esse poder de atração por meio de concessão de bolsas, viagens, cursos… Então, assim, está claro. A gente vê claramente como parte desses interesses velados de você promover tão intensamente a USAID. […]
OPEU: A gente vai conseguindo… a gente vai vendo, né, essas estruturas conseguindo cada vez mais naturalizar uma precarização do trabalho. Que não remonta apenas ao trabalho, né? Direitos civis, entre outros direitos. E eu me lembro muito, assim, do falecido Samuel Pinheiro Guimarães. Um livro dele que nunca deixa de ser atual. Eu gostaria que o livro não fosse mais tão atual… É um livro, sei lá, do início dos anos 2000, Quinhentos anos de periferia. Quando ele lista lá uma série de ferramentas e estratégias das estruturas hegemônicas para manterem… para fazerem a manutenção dessa hegemonia, né? Ainda que a gente discuta de que forma, assim, no caso do Trump, se busca a manutenção dessa hegemonia. Você listou várias delas. Esse poder de atração por meio de concessão de bolsas, viagens, cursos… Então, assim, está claro. A gente vê claramente como parte desses interesses velados de você promover tão intensamente a USAID. […]
Você vê dentro da sua pesquisa, você já identificou modelos de cooperação internacional que não sejam liderados por potências e que poderiam substituir o papel da USAID?
[…] Se esse desmonte da USAID, de alguma forma… Embora me pareça que talvez a gente esteja falando de um desmonte mais estratégico do que atropelado e não pensado. Porque isso que a gente tem ouvido aí pelo senso comum: “Ah, que coisa horrível, está destruindo a USAID!”. Talvez seja, na verdade, um enxugamento para melhorar a atuação da USAID de uma forma muito precisa, né? Muito cirúrgica.
Camila Vidal: Mais certeira.
OPEU: Mas então, eu acho que isso é algo bem importante da gente ficar atento. De que forma esse desmonte, pelo menos no primeiro momento, até que essa reconfiguração da agência se conclua e esse “novo modelo” se consolide, pode ter impacto? Porque a gente sabe que esses impactos não são imediatos. De que forma esse desmonte pode ajudar a repensar, por exemplo, a governança global do desenvolvimento, abrindo o caminho para outros atores que não os Estados Unidos? Aí, é claro que imediatamente eu penso em quem? Quem está fazendo isso é a China. E a gente volta… Acho que volta lá para o início da nossa conversa sobre se diminui ou não o poder de atração numa disputa com a China.
Camila Vidal: Eu não… assim, não sou muito otimista, não. Meus alunos me conhecem pelo meu pessimismo (risos). Mas é porque eu acho que, enquanto a gente não fizer esse debate internamente, enquanto a gente não decidir assim… “Olha, é isso que a gente quer enquanto nação”, a gente vai ser refém dessas estruturas que vêm de fora, seja uma USAID, seja outra organização, que nos dizem o que é que a gente tem que fazer, o que que é que a gente tem que pensar.
Porque, ao fim e ao cabo, é isso. Tanto é que, se você for ver no imposto de renda de boa parte dessas organizações que vem dos Estados Unidos, a missão delas é educacional. Praticamente todas elas, seja o NED, seja a própria Atlas, que você mencionou, que foi onde eu consegui participar um pouco no Chutando a Escada ali de 2023. Acho que foi, né? Nem me lembro.
[…] eu acho que cabe a nós, num primeiro momento, pensar assim, fazer esse trabalho e resgatar também a nossa história, né? E a nossa luta política e entender, sobretudo, os interesses que estão por trás desses discursos. Assim, sejam os discursos meritocráticos, mas também os discursos de assistência, de ajuda, de desenvolvimento. E daí requer, assim, uma perspectiva que eu considero mais crítica, mas também um conhecimento acerca da nossa história, né? Isso eu não vejo, pelo contrário, acho que a gente está cada vez mais longe disso. Então, eu acho que não vai ser pelo desmonte ou pela agora reestruturação da USAID que a gente vai conseguir ter maior margem.
Porque, pelo contrário… Não vai ter ela, mas vai continuar tendo essa infinidade de outras instituições com esse mesmo discurso e pulverizadas em todos os setores, assim. Não só na academia, mas na mídia, né? Na política. De modo que é difícil, porque hoje em dia a gente sequer tem um debate ou tem uma proposta outra que não seja o empreendedorismo, o neoliberalismo… o capitalismo… não existe, né? Então, eu acho que tem que começar dentro de casa primeiro, sabe?
OPEU: Um caminho… Desculpa ter te interrompido… Um caminho para isso é um aumento do diálogo da academia com o mundo político? E, se sim, em que moldes? Ou, se não, que caminhos você vê?
Camila Vidal: Eu só posso falar do meu ponto de vista aqui e de como eu acho que a gente pode atuar dentro da academia. Eu acho que é evidenciando a necessidade de uma perspectiva crítica e autônoma nossa. Porque, mesmo quando a gente fala de América Latina ou de Brasil, ou mesmo os discursos decoloniais, é uma leitura de nós feita por eles.
Então, eu acho que a gente tem que resgatar a nossa autonomia. E isso começa com uma autonomia intelectual. Isso começa com a gente conhecer a nossa história a partir de uma perspectiva crítica e produzir nós mesmos. Por isso que eu digo, né, tem que começar em casa, tem que começar aqui dentro primeiro.
E, por eu estar na academia, eu acho que compete a nós, dentro da academia, nos emanciparmos. Sobretudo nas Relações Internacionais, que é um campo claramente de domínio estadunidense. Acho que isso não tem discussão. Então, cabe a nós fazermos esse tipo de pesquisa, de leitura mais crítica, e pensar o que se quer em termos de país.
OPEU: Aí, por tudo que você falou, fica claro agora, ouvindo e decantando a sua análise sobre agências e ferramentas ideológicas, que, na verdade, para os Estados Unidos, independentemente de republicanos ou democratas, interessa muito mais, talvez, gerar dependência do que autonomia. Seja de pensamento, seja em relação a uma visão de mundo, que é muito tributária de determinados valores que não necessariamente nos interessam. Seja, em relação a recursos – recursos tecnológicos, principalmente, pelo momento que a gente está vivendo.
Então, eu entendo que isso, na verdade, faz a gente olhar para a USAID como algo que não vai acabar. Apenas talvez mude de roupagem. Para além dessa precisão mais cirúrgica, que a gente falou no início, isso também aparece detalhadamente no Projeto 2025, e me parece que isso vai além do Trump.
Camila Vidal: Sim, eu vejo assim também. Por isso que eu não sou nada otimista. Acho que são estratégias historicamente empregadas – não estamos falando de nada supernovo, superrecente. Desde sempre, desde o momento em que os Estados Unidos se tornaram a superpotência que são – portanto, ao fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria –, a gente vê o uso capilarizado na sociedade de uma série de instituições para moldar aquela sociedade e obviamente aquela política a continuar aquele papel de subserviência aos interesses estadunidenses: interesses materiais, de corporações, de empresas. Então, isso aconteceu claramente com uma série de esforços. Seja o Peace Corps no Nordeste, justamente o Nordeste, nos anos 1960, naquele momento de ebulição com as ligas camponesas e de revoltas populares – bom, então a gente manda um monte de “oficiais da paz”.
Mas, sobretudo, com institutos como o IPES [Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais], como o IBAD [Instituto Brasileiro de Ação Democrática], que, a partir de uma leitura supostamente técnica, envoltos numa tecnicidade e numa legitimidade meio acadêmica e intelectual, vão colocar ali quais são os problemas do Brasil e propor soluções. E, obviamente, essas soluções são, assim, uma subserviência aos interesses dos Estados Unidos. E nunca pensando a partir das nossas necessidades, né? Nunca a gente pensando por nós mesmos, assim. Então, isso sempre aconteceu. A gente está falando de 100 anos dessa trajetória. Então, eu não vejo mudança tão cedo enquanto a gente não começar, de fato, a ter essa autonomia intelectual, sabe?
OPEU: E você falou do discurso técnico. Ele é muito eficiente, porque ele tem uma assepsia. Ninguém vai ser contra números e metodologias, métodos e uma certa objetividade. A gente chama isso de cientificismo, né? Que é uma objetividade científica usada para dar legitimidade a determinadas políticas que já estão decididas antes mesmo, talvez, de que você tenha estudos ou, enfim, você tenha sequer conversado com os atores envolvidos naquela questão específica. E isso mostra também por que é tão eficiente essa narrativa. […] E aí acho que principalmente também por conta de dois fatores. Primeiro, de como os americanos se sentem em relação ao mundo e a si mesmos. Você falou isso no início, O povo para o povo. Excepcionais, farol para o mundo. É exportar esse modelo de sociedade incrível que funcionou, o experimento republicano que deu certo. Tem também um ponto que mexe nisso, que é essa questão doméstica. De você violar direitos, direitos dos próprios americanos, não fora do território americano.
Então, esse discurso funciona, e a agência acaba tendo seus críticos e seus defensores. Entre outros pontos, acho que a gente passou por alguns… E aí, eu já vou fazendo um resumão de alguma coisa que a gente falou aqui.
Os críticos vão denunciar que os projetos – você falou disso – de fortalecimento da sociedade civil financiados pela USAID foram usados, por exemplo, para desestabilizar governos. Você mencionou a Bolívia em 2019. A gente pode pensar na Venezuela também. Ou os críticos vão dizer que essa narrativa, retomando o que a gente acabou de falar, de neutralidade técnica, é uma balela. É uma mera desculpa esfarrapada, já que, por exemplo, os maiores orçamentos da agência vão para países que são estratégicos para os Estados Unidos. E aí, a gente pode, por exemplo, mencionar Paquistão, ou um bem exemplo atual: Ucrânia. Talvez agora de forma diferente com Trump, mas até Biden, sim.
E quem defende a USAID, e aí já comprando esse discurso, assumindo esse discurso como verdadeiro, fala: “Não, mas olha só, tem esses benefícios humanitários. Os benefícios humanitários compensam qualquer coisa”. Mas de que forma esses benefícios são… eles são redistributivos? Quem recebe? De que forma? Como? Quando? Defensores da USAID também vão falar da importância desses programas no longo prazo, como, por exemplo, combate a epidemias. Algo que é muito relevante, se a gente pensar, por exemplo, no continente africano. Só um exemplo.
Então, minha pergunta para fechar e encerrar sua linha de pensamento e o argumento – que, infelizmente não é muito otimista. Eu tinha esperança de que teríamos uma nota de otimismo, ou pelo menos um pessimismo esperançoso, se é que podemos dizer assim.
Camila Vidal: Não conte comigo para isso.
OPEU: Ah, tudo bem. A pergunta seria se a política externa e a diplomacia dos Estados Unidos ficam piores ou melhores sem a USAID, ou pelo menos sem a USAID na forma que a gente conhecia até agora, com toda sua envergadura.
Camila Vidal: Ah, assim, não tem uma resposta para isso, né? Eu acho que é sempre bom a gente saber com quem a gente está lidando. Então, é sempre bom ser o mais transparente possível, se possível retirar essa roupagem muito virtuosa e explicitar os interesses materiais por trás. Eu acho sempre muito mais benéfico.
Ah, mas você tocou num ponto que acho bem importante. Porque o fechamento ali, pelo menos o congelamento da USAID, teve uma manifestação de muita gente comentando justamente isso, que os benefícios a longo prazo vão compensar. E, de novo, eu acho que daí a gente precisaria fazer essa leitura mais crítica mesmo e entender… Sendo assim, bem objetiva: não existe almoço grátis, né? Pegando essa leitura mais economicista, no sentido de que existem interesses ali de quem está financiando isso… E esses interesses são materiais.
Então, é claro que eu não posso só mostrar o punho de ferro. Não podia, até agora, até então, né? Até o governo Biden. Então, eu precisava, por exemplo, enviar umas sacas lá de arroz, sei lá, para uma comunidade carente, porque eu não posso só evidenciar o meu interesse ali econômico. Então, eu tenho que comprar um pouco também. E daí essa dimensão meio até maquiavélica, do Maquiavel mesmo. Você precisa ser amado e temido ao mesmo tempo, mas você precisa ser amado. Você tem que também demonstrar ali, ou pelo menos tentar comprar ali, de uma forma que não seja tão coercitiva.
OPEU: E o bem se faz aos poucos. Também dizia Maquiavel.
Camila: Exato. Então é isso. Eu continuo sendo pessimista. Lamento, Tati.
OPEU: Ah, quem quiser agora pesquisar… A gente está acompanhando, o site está fora do ar. Quem pesquisa USAID agora faz o quê? Fontes, fontes fidedignas, fontes confiáveis… Vai para onde?
 Camila Vidal: Pois então, gente… Assim, é triste, mas não tem muita coisa, não. A leitura acadêmica mesmo é raríssima. Eu indicaria um livro do Lars Schoultz, que eu acho que até hoje é um dos únicos estudos que eu respeito, inclusive pelo comprometimento dele, pela atuação política e tudo, que se chama In Their Own Best Interest, que, em tradução literal, seria “pelo interesse deles próprios”. Que lida com esse papel. Ele inclusive vai evidenciar a atuação da USAID no Haiti. Não à toa o país que mais recebeu ajuda, supostamente recursos financeiros, é também o mais pobre do continente. E, se a gente puxar esse novelo aí, essa lã, vai ver que quem recebe esses recursos, na realidade, de novo, são empresas estadunidenses, instituições estadunidenses que talvez vão lá para fazer algum serviço, ou talvez nem isso.
Camila Vidal: Pois então, gente… Assim, é triste, mas não tem muita coisa, não. A leitura acadêmica mesmo é raríssima. Eu indicaria um livro do Lars Schoultz, que eu acho que até hoje é um dos únicos estudos que eu respeito, inclusive pelo comprometimento dele, pela atuação política e tudo, que se chama In Their Own Best Interest, que, em tradução literal, seria “pelo interesse deles próprios”. Que lida com esse papel. Ele inclusive vai evidenciar a atuação da USAID no Haiti. Não à toa o país que mais recebeu ajuda, supostamente recursos financeiros, é também o mais pobre do continente. E, se a gente puxar esse novelo aí, essa lã, vai ver que quem recebe esses recursos, na realidade, de novo, são empresas estadunidenses, instituições estadunidenses que talvez vão lá para fazer algum serviço, ou talvez nem isso.
Então tem essa bibliografia que eu recomendo do Schoultz e, claro, tem os informes do OPEU, que a gente fez uma série bem bacana sobre a USAID, que vai desde segurança pública, passando pelo Haiti também. Então, acho que ali é uma fonte muito bacana.
OPEU: Só me veio uma coisa aqui, que talvez, na verdade, essa mudança de abordagem do Trump talvez isso possa favorecer alguma análise mais crítica, algum despertar. Não estou dizendo que é benéfico, mas pode ser parte de um caminho,
Camila Vidal: Talvez.
OPEU: Foi, como sempre, um prazer estar com você. Quem está ouvindo a gente não sabe, mas nós estamos aqui nos vendo pelo Meet. Então, foi muito bom rever você, conversar sobre um tema tão importante que, na verdade, não foi, pelo menos aqui – e aí falando dos canais tradicionais, imprensa, sites –, tratado com a devida diversidade, no sentido de outros olhares, outras perspectivas, e também não foi tratado com o devido aprofundamento que mereceria ter. Que esse nosso episódio seja um ponto de partida para novas discussões. Aguardo novos textos!
Camila Vidal: Eu que agradeço. Foi um prazer, Tati. Foi uma conversa mesmo, um bate-bola, então foi muito, muito prazeroso para mim. Espero que tenha sido também para quem está nos escutando, quem vai nos escutar. Obrigada pelo convite.
OPEU: Sempre. Você sabe que está naquela minha lista de top five. ![]()
Quer apoiar o Chutando a Escada? Acesse chutandoaescada.com.br/apoio
Comentários, críticas, sugestões? Escreva pra gente em perguntas@chutandoaescada.com.br
Participaram deste episódio: Tatiana Teixeira, Camila Vidal Felix e Victor Cabral Ribeiro
Escute também no Spotify, no YouTube ou Apple Podcasts
* Tatiana Teixeira é editora-chefe do Observatório Político dos Estados Unidos (OPEU). Contato: tatianat19@hotmail.com.
** Com transcrição de Rafael Seabra, colaborador do OPEU/INCT-INEU, doutor em Economia Política Internacional (PEPI-UFRJ), mestre em Relações Internacionais (PPGRI-UFF) e economista (IE-UFRJ). Contato: rafaelhseabra@gmail.com. Este conteúdo não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.
*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: professoratatianateixeira@outlook.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.
Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.
Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.
Somos um observatório de pesquisa sobre os Estados Unidos,
com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.





















