‘Lobby’ israelense na política externa dos EUA: uma análise sobre influências internas e alianças

(Arquivo) Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conclui seu terceiro discurso em reunião conjunta do Congresso e reafirma os fortes laços entre Israel e os Estados Unidos, em Washington, D.C., em 3 mar. 2015 (Crédito: foto oficial de Caleb Smith/Flickr)
Por Lauro Henrique Gomes Accioly Filho* [Informe OPEU] [Israel] [Oriente Médio] [John Mearsheimer]
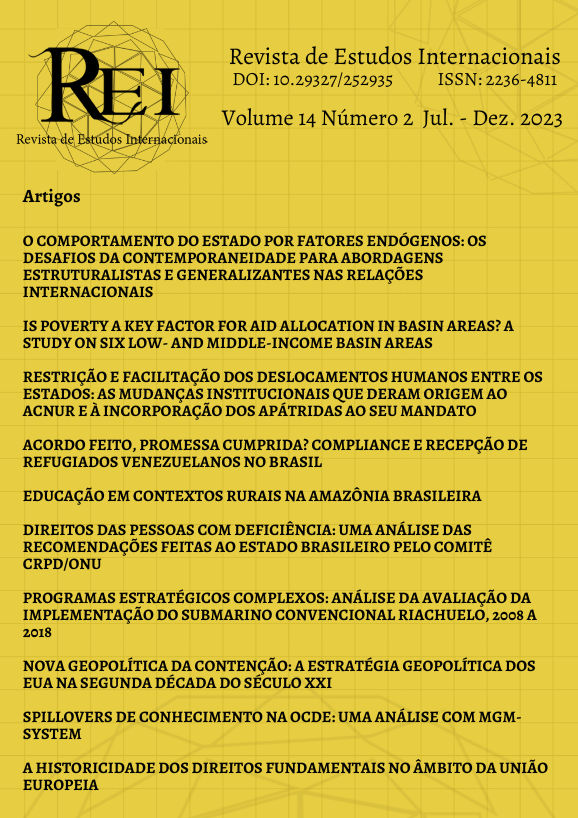
As Relações Internacionais (RI) são um campo de estudo que busca entender o comportamento dos Estados e suas relações com outros países. Tradicionalmente, os estudiosos das RI focaram nos Estados como atores principais, geralmente seguindo interesses racionais e calculando seus movimentos para maximizar segurança e poder. Na prática, porém, vários fatores internos influenciam a forma como um país age, como vemos no caso do lobby israelense nos Estados Unidos.
Por sua via, a política externa dos Estados Unidos é moldada por uma série de fatores internos que vão além do cálculo estratégico de segurança ou poder. O lobby israelense emerge como um exemplo de força significativa que influencia decisões no governo americano, oferecendo um caso concreto onde as teorias tradicionais das Relações Internacionais muitas vezes falham em captar a complexidade das alianças internacionais dos EUA. Pela lente do construtivismo, é possível entender como crenças e identidades compartilhadas entre atores influentes de Washington e Tel Aviv moldam as posturas americanas no Oriente Médio.
Este Informe é fruto da pesquisa publicada no periódico Revista de Estudos Internacionais (REI), sob o título de “O Comportamento do Estado por fatores endógenos: os desafios da contemporaneidade para abordagens estruturalistas e generalizantes nas Relações Internacionais”.
A evolução dos debates nas Relações Internacionais
Desde sua criação, as RI foram vistas através de várias lentes teóricas, cada uma oferecendo uma visão própria sobre a realidade política global. No livro Visões do Mundo (Editora ICS, 2006), o diplomata e político português João Gomes Cravinho argumenta que o problema começa quando essas teorias se concentram demais no Estado como único ator central, ao ponto de reduzir o contexto das relações internacionais a uma ideia de “guerra entre nações”. Isso cria uma imagem simplificada e antiquada, focando em situações históricas específicas e deixando de fora o papel crescente de outros atores no cenário global.
Por muitos anos, as teorias de RI estiveram limitadas a análises “macro”, olhando para grandes questões e estruturas internacionais. Mas, com o avanço da revolução behaviorista, o cenário começou a mudar. Essa nova abordagem trouxe um foco na micropolítica, argumentando que os resultados das ações dos Estados são influenciados pelo nível de análise escolhido e, especialmente, por processos internos. Esses “fatores endógenos” (ou internos) incluem desde lobbies até as crenças e interesses particulares que moldam a política externa de um país. Assim, o campo de estudo das Relações Internacionais passa a incluir não apenas a guerra e a cooperação, mas também as motivações e escolhas internas dos Estados.
 Os debates internos da disciplina também refletem essas mudanças. Desde seu início, as RI debatem a relação entre prática e teoria. Edward Carr, na sua obra Vinte anos de crise (Editora UnB/Ippri, 2001), por exemplo, criticava os chamados “idealistas” que buscavam moldar a realidade a partir da teoria, enquanto defendia que a prática deveria servir de base para a teoria. Esse é o cerne do embate entre liberalismo e realismo, que definem o conflito internacional como uma inevitabilidade ou como algo que pode ser evitado pela cooperação e racionalidade. Cada uma dessas escolas trouxe contribuições importantes, mas as limitações dessas abordagens levaram os estudiosos a buscarem novas perspectivas para entender o comportamento dos Estados.
Os debates internos da disciplina também refletem essas mudanças. Desde seu início, as RI debatem a relação entre prática e teoria. Edward Carr, na sua obra Vinte anos de crise (Editora UnB/Ippri, 2001), por exemplo, criticava os chamados “idealistas” que buscavam moldar a realidade a partir da teoria, enquanto defendia que a prática deveria servir de base para a teoria. Esse é o cerne do embate entre liberalismo e realismo, que definem o conflito internacional como uma inevitabilidade ou como algo que pode ser evitado pela cooperação e racionalidade. Cada uma dessas escolas trouxe contribuições importantes, mas as limitações dessas abordagens levaram os estudiosos a buscarem novas perspectivas para entender o comportamento dos Estados.
Acontece que a criação do Estado Moderno trouxe uma nova ordem de poder na Europa, marcada pela soberania estatal. Esse conceito foi o que definiu o Estado como o único ente legítimo para representar a vontade de seu povo e para usar a força quando necessário. Essa ideia serviu como marco inicial para o que chamamos de “Primeiro Debate” nas RI. Desde então, a questão da anarquia, ou seja, a ausência de uma autoridade global acima dos Estados, passou a moldar a teoria das RI, especialmente o realismo, que vê os Estados como autônomos e constantemente competindo por poder em um sistema sem um “Leviatã” para impor a ordem.
Essa ideia de anarquia trouxe também suas próprias complicações. A antropomorfização, ou seja, a visão do Estado como um “ser racional”, cria uma visão rígida e padronizada sobre o comportamento dos Estados. Isso limita a capacidade de análise das RI e ignora as complexidades de como cada Estado age de acordo com suas circunstâncias internas, e não apenas com a lógica externa de poder e segurança.
Com a globalização, surge um novo conceito – o “glocal”, que mistura o global e o local. Ele reconhece que as interações políticas podem acontecer tanto em escala global quanto no cotidiano das pessoas, deixando claro que o Estado não é o único ator importante. As novas perspectivas, como o behaviorismo e o construtivismo, ampliam o entendimento da disciplina, ao incluir variáveis que os clássicos ignoraram, como crenças, ideologias e pressões internas de grupos específicos.
No final das contas, as teorias clássicas são poderosas para explicar a política internacional, mas limitadas para entender fenômenos que envolvem fatores internos. Isso explica por que muitos estudiosos defendem a adoção de novas lentes de análise para entender o comportamento dos Estados de forma mais completa. Afinal, não se trata apenas de “poder e segurança”, mas de como fatores como crenças e lobbies moldam as decisões de política externa.
O papel dos fatores internos: a Revolução Behaviorista e o Construtivismo
A tendência de ignorar a ciência como um produto social é um problema constante nas Relações Internacionais. Nesse contexto, o construtivismo tornou-se crucial, ao reformular a visão rígida da ciência para uma concepção mais abrangente de realidade, cuja natureza é opaca. Essa crítica ressoa intensamente nas RI, onde a noção de um sistema internacional anárquico, considerada imutável, ainda predomina. Segundo o cientista político Alex Prichard, no livro The Continuum Companion to Anarchism (Continuum, 2012), essa percepção dificulta a aplicação prática do conhecimento, uma vez que a visão comum de anarquia nas RI impõe limites à imaginação política.
 Essa posição generalista é confrontada pela visão de que a ciência, como afirmam os pesquisadores Gary King, Robert Keohane e Sidney Verba, na obra Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton University Press, 2021), não deve buscar certezas absolutas, mas construir conclusões confiáveis, válidas e honestas. No campo das ciências sociais, o reconhecimento da variabilidade do mundo social é crucial. Embora simplificações da realidade possam ser necessárias para compreender fenômenos, é essencial reconhecer as variáveis dinâmicas do contexto social.
Essa posição generalista é confrontada pela visão de que a ciência, como afirmam os pesquisadores Gary King, Robert Keohane e Sidney Verba, na obra Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton University Press, 2021), não deve buscar certezas absolutas, mas construir conclusões confiáveis, válidas e honestas. No campo das ciências sociais, o reconhecimento da variabilidade do mundo social é crucial. Embora simplificações da realidade possam ser necessárias para compreender fenômenos, é essencial reconhecer as variáveis dinâmicas do contexto social.
Nas RI, a busca inicial era entender a guerra e encontrar formas de evitá-la, o que gerou abordagens discordantes que tentavam resolver o problema. A diversidade científica, com suas múltiplas perspectivas, como a abordagem behaviorista, enriquece essa compreensão, ao permitir que variáveis psicológicas e comportamentais, por exemplo, integrem os estudos sobre o comportamento dos Estados. Como observa a professora Emilie M. Hafner-Burton, da Escola de Políticas e Estratégias Globais da UC San Diego, os processos de decisão estatal incluem elementos variados, como as assimetrias informacionais, que podem gerar comportamentos imprevisíveis.
Casos como a Guerra do Iraque evidenciam que crenças e fatores internos podem influenciar decisões estatais, diferindo interpretações entre administrações como as do democrata Bill Clinton e do republicano George W. Bush. Esse aspecto revela que modelos explicativos modernos, mais voltados para os fatores psicológicos, oferecem explicações mais detalhadas das ações dos Estados Unidos no cenário internacional.
Essas questões sublinham que a ciência é dinâmica e que novas perspectivas – como o realismo subalterno, de Mohammed Ayoob, professor de Relações Internacionais na James Madison College, da Michigan State University; o realismo periférico, de Luis Schenoni, professor associado e diretor do Programa de Estudos de Segurança no Departamento de Ciência Política da University College London; ao lado do politólogo argentino Carlos Escudé – buscam adaptar teorias a novos contextos geográficos. Abordagens críticas ao modelo Neo-Neo indicam, porém, que o foco em um ator racional universalizado esconde nuanças importantes.
Os construtivistas rejeitam, por sua vez, a uniformidade do racionalismo, alegando que abordagens históricas amplas, como as do neorrealismo, frequentemente sufocam outras visões. Essa limitação demonstra o poder do construtivismo em revelar o que outras teorias tornam implícito. Conforme destacado pelo cientista político Emanuel Adler, negligenciar fatores sociocognitivos impede uma compreensão plena do comportamento dos Estados.
À vista disso, o cenário atual demanda uma análise mais abrangente, que inclua elementos endógenos e intersubjetivos, como a cognição e a formação de interesses, para aprimorar as previsões sobre o comportamento dos Estados. Ao valorizar processos sociais e cognitivos, a abordagem construtivista amplia as possibilidades de análise, especialmente no estudo de como decisões internas podem impactar a política internacional.
Influência estratégica: o lobby israelense e a política externa dos EUA no Oriente Médio
A influência do lobby israelense fica evidente, ao analisarmos os recentes movimentos dos Estados Unidos no Oriente Médio, durante o governo de Joe Biden. Segundo o relatório The Military Balance de 2022, publicado pelo International Institute for Strategic Studies (IISS), a crescente aproximação de Israel com a China tem gerado preocupações em Washington, refletidas na recente transferência de responsabilidade militar sobre Israel do Comando Europeu (EUCOM) para o Comando Central dos EUA (CENTCOM). Esta decisão do governo democrata, uma medida estratégica para monitorar os laços de Israel com Pequim, destaca a complexidade de se manter boas relações com Tel Aviv sem comprometer alianças tradicionais com países árabes da região.
 Na obra The Israel Lobby and U.S Foreign Policy (Farrar Straus Giroux, 2008), os analistas John Mearsheimer e Stephen Walt argumentam que o lobby israelense tem o poder de desviar e reconfigurar os interesses nacionais americanos para alinhá-los a uma estratégia geopolítica favorável a Israel no Oriente Médio. Essa influência gera um apoio diplomático e material incondicional, que limita a flexibilidade dos EUA no cenário regional. Esse cenário contraria o chamado “dilema de segurança”, que postula que, quando um Estado fortalece seu poderio militar – mesmo com fins defensivos –, acaba gerando uma sensação de insegurança entre seus vizinhos, desencadeando uma corrida armamentista cíclica. Nessa perspectiva, a aliança incondicional com Israel não se justifica apenas pela lógica estrutural neorrealista, já que foge da ideia de vantagens calculadas e segurança mútua.
Na obra The Israel Lobby and U.S Foreign Policy (Farrar Straus Giroux, 2008), os analistas John Mearsheimer e Stephen Walt argumentam que o lobby israelense tem o poder de desviar e reconfigurar os interesses nacionais americanos para alinhá-los a uma estratégia geopolítica favorável a Israel no Oriente Médio. Essa influência gera um apoio diplomático e material incondicional, que limita a flexibilidade dos EUA no cenário regional. Esse cenário contraria o chamado “dilema de segurança”, que postula que, quando um Estado fortalece seu poderio militar – mesmo com fins defensivos –, acaba gerando uma sensação de insegurança entre seus vizinhos, desencadeando uma corrida armamentista cíclica. Nessa perspectiva, a aliança incondicional com Israel não se justifica apenas pela lógica estrutural neorrealista, já que foge da ideia de vantagens calculadas e segurança mútua.
Isto porque, de acordo com o relatório supracitado The Military Balance, os Estados que mais gastam com defesa são Arábia Saudita, com 27,2%; Emirados Árabes Unidos, com 14,6%; e Israel, com 13,8%. Os Estados Unidos permanecem como o principal parceiro de defesa de Israel, além de serem uma fonte crucial de financiamento para o país. Em contrapartida, a Arábia Saudita tem demonstrado um avanço significativo na aquisição de poderio bélico, especialmente evidenciado por sua participação no conflito do Iêmen. Essa situação ressalta a necessidade urgente de recapitalização de equipamentos militares, forçando o reino a diversificar suas relações internacionais.
Já os Emirados Árabes estão ampliando suas parcerias com países como China, Índia e Japão, embora os EUA continuem a ser o principal aliado de defesa extra-regional. A abordagem em relação à China apresenta, no entanto, diferenças notáveis. Enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes buscam estabelecer laços mais estreitos com Pequim sem grandes tensões, a relação com Israel é mais complexa, refletindo uma preocupação maior em relação a qualquer aproximação com o país asiático.
Neste aspecto, o comportamento dos EUA em relação a Israel é um exemplo notório de que o lobby israelense é capaz de influenciar, em peso, a política externa do país de maneira que as teorias realistas tradicionais não conseguem explicar. A abordagem construtivista entende, por sua vez, que crenças e identidades compartilhadas moldam o comportamento do Estado, oferecendo uma explicação mais rica e detalhada para essas relações.
Limitações da teoria neorrealista na explicação das alianças EUA-Israel
O poder explicativo neorrealista sobre a preferência dos Estados Unidos em fidelizar a aliança com Israel e torná-la exclusiva não se explica pela distribuição de capacidades, nem por outros elementos-chave de sua premissa central. Essa questão revela a importância de se compreender a dinâmica específica de um país internamente, para depois observar os aspectos exógenos da política internacional que interferem na tomada de decisão, quando notado que é uma tomada de decisão coletiva.
Saiba mais sobre as relações EUA-Israel neste episódio do programa Diálogos INEU
Conforme sublinhado na dissertação de Mestrado de Marta Pereira, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, de Lisboa, as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita passaram por transformações significativas. Mesmo após o governo Trump, que buscou recuperar o estreitamento de laços com os sauditas, as tensões que marcaram a gestão de Barack Obama ainda reverberam.
A implementação da Justice Against Sponsors of Terrorism Act, por exemplo, promoveu uma aproximação com o Irã e forçou o regime saudita a fechar organizações que lucravam com grupos terroristas. Nesse contexto, o interesse dos Estados Unidos em manter uma relação estreita com a Arábia Saudita difere daquele com Israel. Enquanto Washington consegue reduzir sua dependência do petróleo saudita, a opinião pública americana demonstra crescente cansaço em relação ao envolvimento dos EUA nos conflitos da região. Essa insatisfação tem gerado um apelo por cortes no financiamento e no apoio à Força Aérea saudita.
Assim, destacado por Ismail Siddiqui, pesquisador no Indian Institute of Technology Madras, a alternância de administração do Estado exerce impacto considerável nas decisões estratégicas, mesmo que as informações sobre os outros permaneça a mesma, pois as crenças que certas administrações têm sobre o “outro” gera um efeito substancial nessas decisões. Isso pode ser notado com o caso da Arábia Saudita, mas não com Israel.
Um ponto central em discussão é: a opinião pública nos Estados Unidos pode ser um vetor de influência tão forte quanto grupos de interesse, como o lobby de Israel? De acordo com a dissertação de Marta Pereira, as relações entre os EUA e a Arábia Saudita são fortemente moldadas pela administração em vigor. Em contraste, Mearsheimer e Walt argumentam que as relações entre os Estados Unidos e Israel são robustas e pouco suscetíveis a mudanças, mesmo na ausência de um acordo formal que consolide essa parceria.
Neste contexto, à medida que a Arábia Saudita busca diversificar suas relações internacionais e estabelece uma aliança mais equilibrada com a China, surge a questão: como isso afetará o equilíbrio de poder no Oriente Médio para os Estados Unidos? Com a crescente capacidade militar da Arábia Saudita e sua menor dependência dos EUA, os desafios para Washington podem se intensificar na região.
Esse cenário ilustra um fenômeno destacado pelos novos estudos do movimento behaviorista: a percepção errônea e o excesso de confiança. Quando atores ou grupos específicos recorrem a decisões políticas familiares, muitas vezes agem com base em crenças que podem comprometer movimentos estrategicamente racionais. Isso levanta uma preocupação significativa sobre o impacto do lobby de Israel na formulação da política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, dificultando a capacidade de Washington de manter um controle eficaz na região sem depender excessivamente de uma única aliança.
Nesse contexto, destaca-se a importância do nacionalismo e dos apelos identitários de grupos específicos. Muitas vezes, as ações políticas são impulsionadas mais pela preocupação com o bem-estar daqueles que compartilham uma identidade comum do que por uma simples agregação de interesses individuais. Essa dinâmica pode criar desafios adicionais para os EUA, ao tentarem equilibrar suas relações na região e garantir uma abordagem mais estratégica e diversificada.
Analisar capacidades militares por si só não é suficiente para entender as preferências e o comportamento dos Estados em regiões específicas, como demonstrado nas relações entre Estados Unidos e Israel. Embora os EUA ainda estejam atrás na diversificação de relações com outros Estados potencialmente poderosos da região, sua aliança com Israel é mais influenciada por fatores internos de política do que por considerações externas. Muitos teóricos apontam isso como uma das principais razões que moldam o comportamento dos Estados.
Enfraquecimento da hegemonia dos EUA no Oriente Médio: Entrevista com Uzma Siraj
OPEU Entrevista: o olhar de uma especialista sobre a influência dos EUA no Oriente Médio
Nesse contexto, a influência do lobby de Israel na formulação da política externa dos EUA pode resultar em equívocos estratégicos, especialmente à medida que os Estados buscam diversificar suas parcerias com potências militares, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, em colaboração com a China. Essa situação levanta questões importantes sobre quem realmente define o comportamento dos Estados e se ele se baseia apenas em dois predicativos: “altruísta” ou “egoísta”.
Além disso, é fundamental reconhecer que fatores externos não são suficientes para explicar a política internacional em contextos geográficos específicos. Elementos abstratos, como a natureza humana, muitas vezes limitados por visões antagônicas, também falham em fornecer explicações abrangentes. Em vez disso, processos sociopolíticos e sociocognitivos que ocorrem dentro de um Estado podem oferecer uma abordagem mais eficaz para analisar e entender esses comportamentos que se afastam das explicações generalizantes, aumentando a capacidade analítica das relações internacionais. ![]()
* Lauro Henrique Gomes Accioly Filho é pesquisador colaborador do OPEU e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), com período “sanduíche” na American University em Washington, D.C. Contato: lauroaccioly.br@gmail.com.
** Revisão e edição final: Tatiana Teixeira. Este conteúdo não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.
*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: professoratatianateixeira@outlook.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.
Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.
Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.
Somos um observatório de pesquisa sobre os Estados Unidos,
com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.





















