Kamala ou Trump: pressões da opinião pública desafiam política externa americana pós-eleição
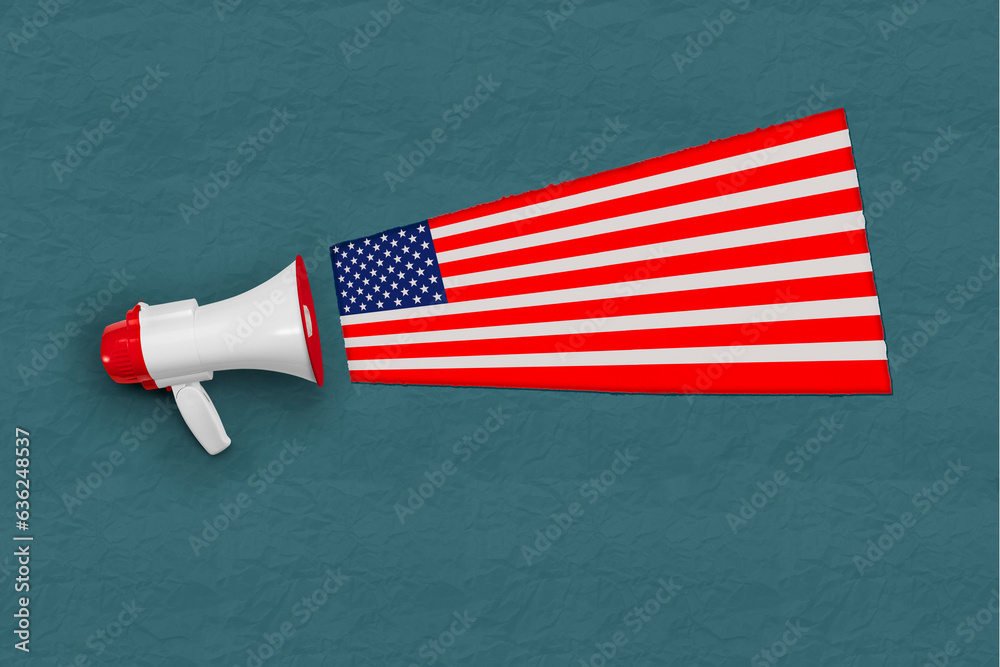
Crédito: TSViPhoto/Adobe Stock/Free trial
Por Miguel Herman* [Informe OPEU] [Eleições 2024] [Política Externa] [Política Doméstica] [China]
As repercussões internacionais das escolhas dos eleitores americanos em 5 de novembro não poderiam ser mais profundas. A incessante grande guerra no continente Europeu, o escalonamento do conflito no Oriente Médio, o deterioramento das condições no Sudão e as tensões afloradas no Sudeste Asiático, no Iêmen e em Mianmar apontam para a continuidade de instabilidades internacionais graves e de uma crise nos próprios mecanismos de resposta a emergências. Nesse cenário turbulento, o mundo aguarda apreensivo pela resposta das urnas americanas, na esperança de gerar indícios sobre a direção de sua política externa nos próximos anos.
Especialmente para os interessados em dinâmicas de política tecnológica e industrial, comércio internacional e na crescente elevação de barreiras protecionistas ao redor do mundo, as eleições americanas chamam a atenção, na medida em que se tornaram, entre muitas outras coisas, um quasi-referendo entre o decoupling trumpista e o de-risking democrata.
Enquanto analistas diferem acerca da relevância de temas de política externa para a eleição, é difícil não notar a profusão de posicionamentos em relação à disputa estratégica entre China e Estados Unidos nas plataformas eleitorais dos presidenciáveis. Por se tratar de um assunto que toca tão profundamente em dinâmicas econômicas, extremamente caras aos eleitores, as propostas de Harris e Trump para política internacional se resumem quase completamente ao debate neoprotecionista, escanteando temas centrais na crise internacional, como Ucrânia, Gaza e a crise dos mecanismos internacionais. Não à toa se popularizou a noção de que existe um consenso bipartidário americano no que se refere à necessidade estratégica de “desacoplar” e proteger as cadeias de suprimento nacionais no sentido de garantir maior segurança econômica frente a ascensão chinesa, além de proteger a posição privilegiada dos Estados Unidos nas cadeias globais de valor.
Não somente um reflexo de diagnósticos estratégicos, a relevância dessa discussão indica tendências mais profundas sobre o eleitorado americano e suas crenças a respeito do papel do país no mundo. Apesar da significância do momento, o grande desafio para os candidatos e formuladores de política externa está em balancear as demandas conflitantes da competição estratégica e da falta de interesse do eleitorado em política externa e, mais profundamente, no engajamento internacional. De fato, enquanto o mundo assume a posição de emergência para absorver o impacto do resultado eleitoral, uma força silenciosa e muito mais pervasiva tem influenciado os debates de política externa nos Estados Unidos, com impactos potencialmente muito mais duradouros do que o embate imediato entre as propostas de Harris e Trump: o desinteresse. Nesse contexto, tanto os presidenciáveis quanto o establishment de política externa americana precisam convencer o eleitorado de que é possível formular uma política externa que funcione para o americano médio.
Crescente desinteresse pela Política externa
É curioso notar, no entanto, que a profundidade dos reflexos internacionais da decisão eleitoral americana contrasta com a crença bastante difundida de que o assunto importa pouco para o próprio eleitorado. Desde o imediato pós-Guerra Fria, estabilizou-se a noção de que política externa teria uma relevância radicalmente reduzida na disputa política doméstica. Na superfície, as pesquisas de 2024 parecem apontar para essa conclusão.
 uma recente pesquisa do Gallup que investiga o problema de maior preocupação dos eleitores, nenhum assunto de política externa, diretamente, angariou mais de 3% de respostas positivas. Uma pesquisa similar do Chicago Council on Global Affairs mostrou que menos de 20% dos eleitores afirmaram que debates proeminentes de política externa, como a guerra na Ucrânia e Gaza, teriam grande relevância na sua escolha de presidente. Outra análise do Pew Research Center mostra que a porcentagem do eleitorado que dizia priorizar assuntos de política internacional caiu desde 2019, chegando a 14% em 2024. De forma consistente nessas pesquisas, os assuntos de política internacional são consideravelmente menos relevantes do que temas como inflação, imigração, e direitos reprodutivos. Em uma rápida análise dos números, observa-se um status coadjuvante da política externa na disputa eleitoral.
uma recente pesquisa do Gallup que investiga o problema de maior preocupação dos eleitores, nenhum assunto de política externa, diretamente, angariou mais de 3% de respostas positivas. Uma pesquisa similar do Chicago Council on Global Affairs mostrou que menos de 20% dos eleitores afirmaram que debates proeminentes de política externa, como a guerra na Ucrânia e Gaza, teriam grande relevância na sua escolha de presidente. Outra análise do Pew Research Center mostra que a porcentagem do eleitorado que dizia priorizar assuntos de política internacional caiu desde 2019, chegando a 14% em 2024. De forma consistente nessas pesquisas, os assuntos de política internacional são consideravelmente menos relevantes do que temas como inflação, imigração, e direitos reprodutivos. Em uma rápida análise dos números, observa-se um status coadjuvante da política externa na disputa eleitoral.
Essa leitura deixa de lado, no entanto, um desenvolvimento mais profundo na forma como o eleitorado americano percebe a política internacional. Não se trata somente de uma questão eleitoral. Enquanto existe desinteresse acerca dos temas de política externa na hora do voto, mais profundo ainda é o crescente desinteresse em ver o país se engajando ativamente nos assuntos do mundo. Além de não se interessarem, os americanos parecem se importar cada vez menos com a política externa propriamente dita. Após décadas de globalização, de engajamento na ordem liberal internacional e de uma custosa presença militar global, há hoje um reconhecimento consolidado em ambos os campos políticos de que a política externa precisa estar mais claramente a serviço do americano médio.
Em uma pesquisa recente, “proteger os empregos de trabalhadores americanos” foi o tema mais recorrentemente elencado como um objetivo muito importante de política externa por eleitores em ambos os lados da divisão partidária. A opção foi selecionada em 79% das respostas. Ao mesmo tempo, a crença nos benefícios do engajamento global está se aproximando da mínima histórica, com apenas 54% dos americanos concordando que participar das questões internacionais traz benefícios para o país. Outro estudo revela que a crise do apoio americano ao engajamento internacional está em decadência e fica especialmente crítica quando consideradas clivagens raciais e geracionais. Enquanto 67% da geração Baby Boomer (nascidos entre 1945 e meados da década de 1960) diz acreditar que o engajamento ativo em assuntos internacionais gera benefícios para os Estados Unidos, o número cai para 50% entre Millenials (nascidos entre o início dos anos 1980 e dos 1990) e Geração Z (nascidos a partir dos anos 2000). Os custos da presença global americana estão sendo cada vez mais sentidos por aqueles que tendem a favorecer investimentos domésticos, levando metade dos americanos mais jovens a crer que o país deve se abster de assuntos internacionais. Os americanos também estão muito mais preocupados com ameaças internas a sua segurança (81%) do que com ameaças externas (19%).
Esses números são acompanhados pela queda na crença do excepcionalismo americano. Enquanto 65% dos Baby Boomers consideram os EUA o melhor país do mundo, apenas 40% dos Millennials, e 34% dos Zoomers, concordam. Em termos raciais, 55% dos entrevistados brancos corroboram a afirmação, contrastando com 47% de negros e hispânicos. Ainda mais relevante são os números relacionados às opiniões acerca do papel privilegiado dos Estados Unidos no mundo. Uma grande maioria (66%) dos americanos entende que os Estados Unidos devem assumir a posição de uma liderança compartilhada no mundo, enquanto apenas 22% acreditam em que o país deve lutar por uma liderança dominante. Um número não insignificante (12%) vai além, ao afirmar que os Estados Unidos não devem assumir qualquer posição de liderança no mundo.
Política externa para a classe média
 Para analistas do think tank New America, muitos “estão começando a aceitar o fim da primazia americana”. Além disso, ressaltam que o mundo parece não ter acompanhado o desenvolvimento na opinião pública, a qual vem-se tornando crescentemente cansada do policiamento do mundo desde que o então presidente Barack Obama anunciou planos para retirar tropas do Iraque, sua grande bandeira de política externa. “A cada ano que passa desde então, o movimento em direção a uma retirada dos EUA dos assuntos mundiais tem-se tornado cada vez mais pronunciado”, acrescentam os analistas.
Para analistas do think tank New America, muitos “estão começando a aceitar o fim da primazia americana”. Além disso, ressaltam que o mundo parece não ter acompanhado o desenvolvimento na opinião pública, a qual vem-se tornando crescentemente cansada do policiamento do mundo desde que o então presidente Barack Obama anunciou planos para retirar tropas do Iraque, sua grande bandeira de política externa. “A cada ano que passa desde então, o movimento em direção a uma retirada dos EUA dos assuntos mundiais tem-se tornado cada vez mais pronunciado”, acrescentam os analistas.
Não se trata, portanto, de meramente questionar se a política externa importa para eleitores americanos, mas como a política externa está localizada no imaginário político do eleitorado. Na medida em que o mundo em crise sinaliza, também, um retorno à multipolaridade, as preferências parecem gradualmente apontar para objetivos de política externa mais modestos e, sobretudo, para a garantia de segurança econômica. Como notado pelos atuais conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e secretário de Estado, Antony Blinken, os formuladores de política externa estão sob pressão aumentada para integrar suas práticas, mais profundamente, aos objetivos de política doméstica.
Não é à toa, portanto, que esse fenômeno já tem sido um grande motor para a política externa americana desde que a política America First antiglobalista de Trump encontrou surpreendente ressonância em 2016. Como muitos no establishment de política externa em Washington vieram a perceber, eles haviam falhado em comunicar de forma eficaz que décadas de globalização e consolidação de uma ordem liberal internacional beneficiaram o americano médio e, acima de tudo, em considerar as diversas formas em que ela não poderia trazer resultados perceptíveis para grandes setores da população. Como admitido por Blinken em seu primeiro grande discurso como atual chefe da diplomacia, “estamos aprendendo duras lições. Alguns de nós defendíamos os acordos de livre-comércio porque acreditávamos que os americanos compartilhariam amplamente os ganhos econômicos […] mas não fizemos o suficiente para entender quem seria negativamente afetado”.
 Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em seu primeiro discurso para funcionários no Departamento de Estado, em Washington, D.C., em 27 jan. 2021 (Crédito: Departamento de Estado/Ron Przysucha/Domínio Público/Flickr)
Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em seu primeiro discurso para funcionários no Departamento de Estado, em Washington, D.C., em 27 jan. 2021 (Crédito: Departamento de Estado/Ron Przysucha/Domínio Público/Flickr)
Depois de um governo Trump pautado no protecionismo, na guerra tarifária, no aperto em políticas de controles de investimento e exportação e no aumento radical de tensões com a China – a suposta vencedora do momento globalista –, a resposta democrata veio na forma de uma política externa para a classe média que elevou a política industrial e tecnológica a nodo central de política doméstica e externa. Enquanto a era Trump marcou o início dos debates e a implementação de políticas de decoupling – o desacoplamento da relação interdependente com a China –, democratas alinharam esses objetivos estratégicos com a possibilidade de reavivar a manufatura americana, gerar mais empregos e investimentos, por meio de pacotes maciços de incentivos fiscais e de crédito. Sem sugerir o mesmo nível de recuo que as políticas de Trump, os democratas estavam sob pressão para garantir que o posicionamento internacional do país trouxesse ganhos domésticos claros.
Mesmo mantendo boa parte das tarifas da administração de Trump, o governo de Biden optou por uma abordagem mais moderada. Céticos da possibilidade de desacoplar suas capacidades da China e ainda defensores, mesmo que tímidos, do livre-mercado, os democratas propuseram a noção de de-risking. A tentativa seria variar a origem de suas cadeias de suprimentos, enquanto elenca cadeias específicas, geralmente relacionadas com as indústrias críticas e tecnologias do futuro, onde é de relevância estratégica e de segurança garantir a independência completa. Em outros casos, a administração introduziu a ideia de friendshoring, a preferência por cadeias de suprimentos que originem e atravessem Estados aliados considerados confiáveis – uma política popular e potencialmente mais factível, mas que vem encontrando resultados mistos.
Está claro, contudo, que dadas as pressões atreladas à demanda por uma política externa para a classe média, a opção democrata tem sido por políticas de onshoring. Para além de seguir e aprofundar políticas de controle de exportação, sancionamento e tarifárias para asfixiar as capacidades produtivas e científicas chinesas, projetos como o Infrastructure Investment and Jobs Act (2021), o CHIPS and Science Act (2021), e Inflation Reduction Act (2022) visam ao objetivo de fortalecer a própria capacidade doméstica de produção e inovação. Essa nova estratégia emerge também de um redimensionamento temporal dos propósitos almejados, na medida em que substitui os reflexos de curto prazo que as políticas protecionistas mais radicais podem gerar em prol de uma reestruturação mais abrangente e duradoura dos termos das relações de trocas globais. Não à toa, ao sair em apoio dos esforços da administração em revigorar a capacidade produtiva doméstica, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, afirmou se tratar de uma empreitada enfrentar “o desafio geracional de cadência imposto pela República Popular da China”. Essa nova perspectiva surge, então, desse intento conjunto de garantir liderança estratégica a longo prazo, enquanto traz empregos e indústrias de volta aos Estados Unidos.
Sombra e peso da China sobre os EUA
Na campanha, Donald Trump não poupou críticas à abordagem de Biden. Segundo ele, o alto custo das políticas industriais e tecnológicas indica que os democratas preferem taxar os americanos a cobrar da China por suas práticas antimercado. A solução se daria por meio de um aprofundamento e espraiamento da política tarifária de seu governo anterior, sugerindo que, mediante barreiras protecionistas robustas, seriam os produtores estrangeiros a custear as despesas do Estado americano de forma a viabilizar uma redução geral de impostos. Seus planos para uma nova administração a partir de 2025 seguem – e aprofundam – suas tendências isolacionistas e protecionistas.
Desde o início da campanha, Trump tem assustado mercados (e Pequim), ao sugerir que, como presidente, removeria da China o status de Nação Mais Favorecida, criaria um plano de quatro anos para eliminar a importação de produtos chineses essenciais, além de implementar tarifas básicas universais de até 20% para importações, e 60% para importações chinesas – um movimento que alçaria o nível do protecionismo tarifário do país a patamares da Grande Depressão. Ele também sugeriu o retorno de políticas polêmicas, como a China Initiative, que visava a investigar casos de espionagem econômica chinesa. Acabou acusada de racismo, ao atuar indiscriminadamente contra pesquisadores chineses. De forma bem agressiva, Trump ecoou práticas anteriores, ao prometer introduzir novas restrições de investimento americanos na China e vice-versa, inclusive sugerindo um banimento de contratos federais com empresas que terceirizam a produção para indústrias chinesas. Mesmo que concentradas na China, as medidas não param por aí.
Com a data para revisão oficial do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) marcada para 2026, Trump já prometeu uma postura agressiva que protegerá os trabalhadores americanos de um “ataque globalista”, ameaçou impor uma tarifa de 100% (ou mesmo 200%) sobre os veículos produzidos no México e prometeu incluir nos seus projetos restrições para garantir que a China não poderá evadir sanções, tarifas e controles por meio de outros países. Sua proposta de um Reciprocal Trade Act visa a liberar o presidente a responder imediata e proporcionalmente a qualquer país que imponha tarifas sobre produtos de origem americana. A solução internacional para a economia envolveria reduzir os preços de energias fósseis nos Estados Unidos e subir ao máximo as barreiras protecionistas.
 (Arquivo) Presidente Trump (centro); primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau (à dir.); e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto (à esq.), assinam o acordo comercial EUA-México-Canadá durante cerimônia em Buenos Aires, à margem da Cúpula de Líderes do G-20, em 30 nov. 2018 (Crédito: Departamento de Estado/Ron Przysucha/Domínio Público/Flickr)
(Arquivo) Presidente Trump (centro); primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau (à dir.); e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto (à esq.), assinam o acordo comercial EUA-México-Canadá durante cerimônia em Buenos Aires, à margem da Cúpula de Líderes do G-20, em 30 nov. 2018 (Crédito: Departamento de Estado/Ron Przysucha/Domínio Público/Flickr)
Do outro lado da divisória, Kamala Harris propôs uma nova etapa para a política externa para a classe média de Biden. Enquanto sua plataforma oficial faz breves menções a objetivos de política externa tradicionais à diplomacia americana, seu plano “Um Novo Caminho Adiante para a Classe Média” deixa essas questões de lado e, ironicamente, continua no curso da administração atual. Em uma passagem incisiva, o projeto afirma que “A América não pode sentar às margens e ceder sua liderança para nações como a China, colocando em xeque nossa segurança nacional”.
Mesmo já tendo afirmado não ser uma “democrata protecionista”, o plano econômico da candidata se sustenta na ideia de que a manutenção de grandes pacotes de investimento de Estado em setores estratégicos e industriais continuará reduzindo os custos de energia e fortalecendo a capacidade produtiva do país. As referências constantes às “indústrias do futuro” e às “tecnologias emergentes” também sugerem que os democratas pretendem seguir com a estratégia restrita de de-risking, que evita medidas protecionistas abrangentes em prol da defesa da centralidade e da capacidade de inovação em setores estratégicos. Mesmo que ofereçam distinções relevantes, trata-se de estratégias que visam a responder às demandas do eleitorado, ao tentar garantir, simultaneamente, a liderança internacional americana, a segurança nacional e o fortalecimento da produção doméstica. O problema é que esses objetivos podem ser conflitantes.
Em termos práticos, existem dúvidas acerca da possibilidade de a economia americana competir em setores manufatureiros. Livre-mercadistas vêm tentando argumentar que, se a linguagem da segurança econômica for inescapável, devem prevalecer as estratégias de friendshoring que façam sentido na lógica de vantagens comparativas. Outros se preocupam com os possíveis efeitos inflacionários que emergem do retorno dos instrumentos de política industrial ao centro das discussões. Outros sugerem que as medidas protecionistas simplesmente não têm sido efetivas em reduzir a dependência americana de importações chinesas. No campo da tecnologia, parece claro que a política de restrições a empresas chinesas foi eficaz em alinhar os interesses privados com os objetivos estratégicos do Estado, ao gerar um consenso nacional em prol da autossuficiência tecnológica. Desde então, os chineses foram capazes de seguir com importantes marcos de inovação, especialmente em semicondutores, a despeito de sanções e controles de exportação.
Independentemente do sucesso ou da ineficiência das políticas, a consolidação desses projetos em ambas as agendas eleitorais sinaliza um fator subjacente importante: em que pese a factibilidade, qualquer estratégia americana na disputa global pela centralidade produtiva e tecnológica precisará estar alinhada aos interesses domésticos do eleitorado. Na medida em que a insatisfação com a globalização neoliberal se acentuou em todos os campos políticos, analistas se perguntam se, de fato, restou algum globalista. Mesmo que essa ainda seja uma pergunta difícil de responder, a eleição de 2024 oferece um marco relevante. Enquanto o protecionismo de Trump ainda podia ser atribuído aos desvarios de um populista excêntrico, e as políticas de Biden, às demandas políticas do pós-pandemia, as tendências na opinião pública americana e a naturalização desse processo nos projetos de ambos os candidatos sinalizam que a mudança radical no curso da política externa da hegemonia global veio para ficar.
Sabe-se que o que é dito em eleições tão polarizadas pode diferir significativamente das políticas de fato adotadas após a campanha e a transição de governo. Considerado o contexto político, é seguro dizer, no entanto, que as políticas externa e tecnológica americanas seguirão no cabo de guerra entre objetivos estratégicos relacionados com a manutenção da liderança americana e os objetivos domésticos associados aos ganhos econômicos para a classe média. Enquanto as crises se acumulam, americanos parecem crescentemente desinteressados em assumir os ônus do investimento em política externa e ainda mais céticos dos bônus que possam de lá emergir. No restante do mundo, cabe a nós navegarmos esse cenário de recuo, além de aferir que desafios e oportunidades emergem quando os Estados Unidos, que para o bem e para o mal serviram de liderança global na formação da ordem vigente, parecem cada vez mais desinteressados nos assuntos do mundo. ![]()
* Miguel Herman é mestrando no Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (IRI/PUC-Rio), sob orientação da profª Monica Herz e coorientação da profª Luisa Lobato. Seus interesses de pesquisa estão na interseção entre Estudos de Tecnologia e Sociedade, Relações Internacionais, Segurança Internacional e Política Externa Americana. Contato: miguelc.herman2000@gmail.com.
** Revisão e edição: Tatiana Teixeira. Recebido em 24 out. 2024. Este Informe não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.
*** Sobre o OPEU, ou para contribuir com artigos, entrar em contato com a editora do OPEU, Tatiana Teixeira, no e-mail: tatianat19@hotmail.com. Sobre as nossas newsletters, para atendimento à imprensa, ou outros assuntos, entrar em contato com Tatiana Carlotti, no e-mail: tcarlotti@gmail.com.
Assine nossa Newsletter e receba o conteúdo do OPEU por e-mail.
Siga o OPEU no Instagram, Twitter, Linkedin e Facebook e acompanhe nossas postagens diárias.
Comente, compartilhe, envie sugestões, faça parte da nossa comunidade.
Somos um observatório de pesquisa sobre os Estados Unidos,
com conteúdo semanal e gratuito, sem fins lucrativos.





















