Os evangélicos norte-americanos e a política (III). Desafios do novo milênio

Trump, seu vice Mike Pence (dir.) e líderes religiosos, no Salão Oval após proclamação do Dia da Oração, em 1º set. 2017 (Andrew Harrer/Bloomberg)
Por Reginaldo Moraes*
Nos Estados Unidos, as correntes evangélicas que mais têm crescido nas últimas décadas caracterizam-se por novas formas de organização, novas práticas e rituais e, em certa medida, uma nova teologia. Este último fator significa a adoção de um novo sistema de ideias, uma nova interpretação da relação homem-divindade. Um novo discurso. Mas o “revival” evangélico é mais do que isso, bem mais. Nesse sentido, vários estudiosos chamam atenção para a “função social” da nova teologia. Axel Schafer, por exemplo, diz que ela teria raízes numa espécie de acomodação à modernidade, mais do que numa afirmação da moral tradicionalista. Nesse sentido, ela seria parte do processo de modernização da sociedade, promovendo normas e valores que embasam o capitalismo consumista. Assim, aquilo que também se costuma chamar de teologia da prosperidade ganha novo significado:
“A Teologia e os cofres da Igreja conectam-se ainda mais diretamente com a ‘teologia da prosperidade’, que prega que as doações feitas às igrejas são na verdade investimentos que serão reembolsados com sobras. Em uma única geração, os pentecostais substituíram sua tradicional mensagem antimaterialista por uma que prometia salvação não apenas espiritual, mas também financeira — paga, é claro, em parcelas semanais. Para neopentecostais (…) o todo-poderoso dólar tornou-se um sinal da benção do Todo-Poderoso, tanto quanto a riqueza sinalizava para os calvinistas aqueles que seriam os escolhidos. A diferença era que os pregadores pentecostais retratavam a si mesmos como intermediários exclusivos entre os doadores e a recompensa material que viria [The Business Turn in American Religious History – Amanda Porterfield, Darren Grem, John Corrigan, Oxford University Press, 2017].
Mas Schafer aponta ainda outro motivo para considerar essa forma de religião como parte do processo de transformação da sociedade norte-americana. Refere-se ao descolamento demográfico que já comentamos antes:
“As igrejas evangélicas, altamente flexíveis e móveis, com frequência ofereciam os serviços sociais e comunitários que estavam faltando nas novas áreas suburbanas de regiões fervilhantes do Sul e do Oeste” [Axel Schäfer – Countercultural Conservatives: American Evangelicalism from the Postwar Revival to the New Christian Right , University of Wisconsin Press, 2011].
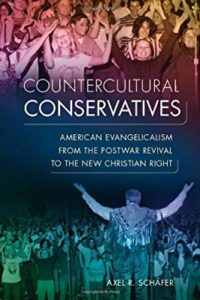 Assim, as igrejas eram não apenas o supermercado do espírito, mas, também, o lugar em que se podia encontrar o playground, a recreação, escolas, centros comunitários, creches, aconselhamento, grupos de jovens, corais. E, reparemos, tudo isso somado constitui importante espaço de socialização e formação de uma subcultura especial. Esses equipamentos viram uma espécie de “capital fixo e imobilizado” de um movimento social.
Assim, as igrejas eram não apenas o supermercado do espírito, mas, também, o lugar em que se podia encontrar o playground, a recreação, escolas, centros comunitários, creches, aconselhamento, grupos de jovens, corais. E, reparemos, tudo isso somado constitui importante espaço de socialização e formação de uma subcultura especial. Esses equipamentos viram uma espécie de “capital fixo e imobilizado” de um movimento social.
Certa vez, um líder conservador disse: “temos uma vantagem com relação aos liberais, eles não têm lugares onde se encontram dois dias antes das eleições”. Esse é um ativo político relevante com que conta a Direita Religiosa, também quando envolvida na disputa interna do Partido Republicano. Daniel Schlozman escreveu um livro em que destaca como os sindicatos foram, durante bom tempo, a âncora social do Partido Democrata – e como o movimento conservador religioso, principalmente o evangélico, se tornou âncora do partido republicano, principalmente nas ultimas décadas do século XX [When Movements Anchor Parties: Electoral Alignments in American History, Princeton University Press, 2015].
Esse aspecto da expansão evangélica talvez explique porque ela é mais bem-sucedida nos Estados Unidos do que na Europa Ocidental. As “redes de segurança social”, nos Estados Unidos, sempre dependeram de um Welfare State ambíguo, frágil. Sempre dependeram de um funcionamento peculiar: os empregadores atuam como agentes do seguro social. Planos de aposentadoria e pensão, de auxílio à formação, de assistência médica estão fortemente vinculados ao emprego – e a um emprego marcado pela longa permanência na mesma firma. Dá para perceber o que ocorre quando essa situação de emprego se transforma – como se tem transformado, radicalmente, nestas últimas décadas, com a fragmentação das grandes corporações, a subcontratação e a precarização dos contratos de trabalho.
Em contraste, na Europa ocidental, os serviços públicos como educação e saúde, assim como o seguro social são fortemente vinculados ao Estado e à condição de cidadania, não ao contrato de trabalho. É possível, mesmo provável, que a maior vulnerabilidade dos trabalhadores norte-americanos os predisponha ao assédio – ou apoio – das redes religiosas. É possível também que essas redes tenham mais possibilidade de se expandir, à la americana, em países da África que sofrem processo acelerado de “modernização”. Ou a países do Leste europeu, que saem de uma economia centralmente planificada para um capitalismo selvagem à moda do século XIX.
A batalha da comunicação eletrônica
Podemos dizer que esses equipamentos físicos – as igrejas e seus apêndices comunitários – constituem o espaço em que se dá a educação presencial dos crentes. Mas eles tinham um complemento decisivo para os tempos modernos: a educação a distância provida pelo rádio e pela TV, depois pela Internet.
O rádio já era ferramenta relevante nos anos 1930. A TV, porém, foi-se tornando central na política, como apontamos em outro artigo.
O desenvolvimento das cadeias de rádio e TV dos evangélicos se combina com o desenvolvimento e maturação de sua identidade como grupo político. Com Eisenhower e Nixon, eles haviam “adotado” um político, um “outro”. Mas, nos anos 1970, eles se dispuseram a eleger “um dos seus”. Jimmy Carter não era apenas um político democrata, era um pregador. E pela primeira vez atraiu coalizões religiosas em bloco, desde a campanha. Aqueles que futuramente seriam os agrupamentos religiosos do Partido Republicano – como a Moral Majority, de Jerry Falwell (1979), e a Christian Coalition e Pat Robertson (1989) – começaram por ser a base política do democrata Jimmy Carter.
Foi nesse momento que a grande mídia evangélica ganhou a forma que hoje tem.
 A CBN (Christian Broadcasting Network) decolou em 1977, quando se tornou a segunda cadeia de TV do país. E criou sua própria universidade, formando “telejornalistas evangélicos” e especialistas em cristo-entretenimento. A segunda cadeia evangélica, a TBN (Trinity Broadcasting Network), sediada na Califórnia, hoje um gigante, nasceu em um galpão, com uma câmera e dois sócios. Expandiu-se no país e se espalhou pelo terceiro mundo, especialmente para o público latino. A Terceira, Family Christian Broadcasting Network (FCBN), teve desenvolvimento similar.
A CBN (Christian Broadcasting Network) decolou em 1977, quando se tornou a segunda cadeia de TV do país. E criou sua própria universidade, formando “telejornalistas evangélicos” e especialistas em cristo-entretenimento. A segunda cadeia evangélica, a TBN (Trinity Broadcasting Network), sediada na Califórnia, hoje um gigante, nasceu em um galpão, com uma câmera e dois sócios. Expandiu-se no país e se espalhou pelo terceiro mundo, especialmente para o público latino. A Terceira, Family Christian Broadcasting Network (FCBN), teve desenvolvimento similar.
Revisemos a sequência dos fatos e ferramentas. Igrejas e grupos de base, que, em certos casos, utilizavam mesmo o nome de “células”. Educação presencial, rádio e TV, educação a distância e a todo momento. E, claro, grandes demonstrações de massa, como a primeira Marcha de Jesus, o Washington for Jesus de abril de 1980, chamada por alguns jornalistas de “Woodstock dos Cristãos”.
J. Brooks Flippen lembra que a manifestação começou com uma simples ideia, aparentemente lançada pelo pastor John Gimenez, porto-riquenho do Harlem, ex-viciado e presidiário. Conseguiu rapidamente a adesão de Paul Robertson, televangelista fundador da Christian Broadcasting Network e animador de famoso programa de TV. E, logo em seguida, juntou-se a eles Bill Bright, fundador de um movimento de difusão da fé em campi universitários, a Campus Crusade for Christ.
Eles criaram uma ONG – One Nation Under God – para coordenar a arrecadação de fundos e planejar o evento. Rapidamente, implantaram 380 escritórios espalhados pelo país e levantaram meio milhão de dólares em contribuições.
No dia da Marcha, a polícia estimou a presença de 200 mil participantes. Os organizadores falavam em 1 milhão. De qualquer modo, era um sucesso.
E ali aparecia o elo que ligaria ideologicamente a rede. O objetivo do movimento era religioso e político ao mesmo tempo: purgar os pecados coletivos, nacionais, os pecados da América — o homossexualismo, o aborto, o feminismo, o humanismo secular que se opunha à fé. A família nuclear estava ameaçada. Era preciso defendê-la no espaço público. A saga é narrada no livro de Brooks Flippen, Jimmy Carter, the Politics of Family, and the Rise of the Religious Right, University of Georgia Press (2011).
Esse evento foi decisivo. A partir desse momento, a direita religiosa era um marco inarredável do mapa político americano. Reagan nela se apoiou, assim como os Bush, pai e filho. Todos esses presidentes de certo modo “traíram” o movimento – ou assim perceberam os velhos líderes, quando parecia ocorrer a “mudança de guarda”, lá por 2004. A maior parte dos fundadores dos grupos tradicionais tinha se aposentado, ou morrido. Alguns deles tinham sido triturados por escândalos sexuais e financeiros. Os líderes mais jovens eram menos coesos doutrinariamente e mais diversificados quanto aos alinhamentos políticos. E todos olhavam com desconfiança para os presidentes que haviam apoiado. O movimento já era mais plural, menos monocórdio, menos confiante.
Ainda assim, a direita religiosa parece ter nichos de resistência muito fortes em alguns lugares, conforme indica o mapa reproduzido por Clyde Wilcox e Carin Robinson [Onward Christian Soldiers? The Religious Right in American Politics, 2011, Westview Press].

Ainda é cedo para prever os desdobramentos dessa nova fase do movimento evangélico. Em 1992, na Convenção Republicana, a Direita Cristã surpreendeu muitos observadores e se afirmou como uma corrente política, claramente identificada. Derrotado o velho inimigo comunista, anunciava-se a guerra dos valores e da família. Agora, os caminhos parecem menos claros, e o vigor daquele momento já não é o mesmo. No cenário Trump, será mais uma vez possível a reinvenção da “palavra de Deus”?
Série e dicas de leitura
A literatura sobre a direita religiosa norte-americana é enorme. Para o leitor que queira saber mais, segue abaixo uma lista de apenas 10 títulos, dos quais foi retirada a maior parte das informações utilizadas nos artigos da série. Há também uma série – With God on our Side – que o leitor pode encontrar no Youtube, fatiada em nove partes. Mais abaixo, dou a lista dos livros.
With God on Our Side! – Youtube:
Parte 1: www.youtube.com/watch?v=daBySU9VHD8&t=406s
Parte 2: www.youtube.com/watch?v=whthyr7Dc8Y
Parte 3: www.youtube.com/watch?v=HY8GtxvW2DM
Parte 4: www.youtube.com/watch?v=bRvLTwf7huY
Parte 5: www.youtube.com/watch?v=bAxDmxYt1zQ
Parte 6: www.youtube.com/watch?v=jW9Uyp3E2Fg
Parte 7: www.youtube.com/watch?v=ds2nZA8UnS0
Parte 8: www.youtube.com/watch?v=vtoHFrV-gd0
Parte 9 (fim): www.youtube.com/watch?v=ip0WUlYrC-M
LIVROS:
Lisa McGirr – Suburban Warriors: The Origins of the New American Right, Princeton University Press, 2001.
Margaret O’Mara – Cities of Knowledge: Cold War Science and the Search for the Next Silicon Valley, Princeton University Press, 2015.
Kevin M. Cruse – One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America, Basic Books, 2016.
Amanda Porterfield, Darren Grem, John Corrigan (eds.) – The Business Turn in American Religious History, Oxford University Press, 2017.
Axel Schäfer – Countercultural Conservatives: American Evangelicalism from the Postwar Revival to the New Christian Right , University of Wisconsin Press, 2011.
J. Brooks Flippen – Jimmy Carter, the Politics of Family, and the Rise of the Religious Right, University of Georgia Press, 2011.
Clyde Wilcox and Carin Robinson. Onward Christian Soldiers? The Religious Right in American Politics, Westview Press, 2011.
Kenneth J. Heineman. God is a Conservative: Religion, Politics, and Morality in Contemporary America, NYU Press, 1998.
Glenn H. Utter e John W. Storey – The Religious Right: a Reference Handbook, Grey House Publishing, 2007.
Denis J. Bekkering. American Televangelism and Participatory Cultures: Fans, Brands, and Play With Religious “Fakes”. Palgrave MacMillan, 2018.
* Reginaldo Moraes é professor aposentado, colaborador na pós-graduação em Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. É também coordenador de Difusão do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos (INCT-Ineu). Seus livros mais recentes são: “O Peso do Estado na Pátria do Mercado – Estados Unidos como país em desenvolvimento” (2014) e “Educação Superior nos Estados Unidos – História e Estrutura” (2015), ambos pela Editora da Unesp.
** Artigo originalmente publicado no Jornal da Unicamp, em 22/8/2019.





















